Discover P24
P24
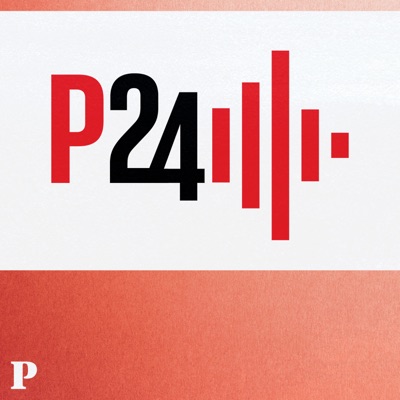
2198 Episodes
Reverse
Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, garante que os EUA podem usar a base das Lajes, na Ilha Terceira, nos Açores, sem avisar Portugal. Rangel sublinha que o uso das Lajes “tem sido feito exclusivamente, e como tem de ser, de acordo com o tratado que existe entre os dois países”. E diz mesmo que os EUA podem usar a base para uma operação no Irão sem que Portugal tenha conhecimento. Mas não é isso que diz o acordo de utilização. A utilização das Lajes é um incómodo político em Portugal. Já em Outubro do ano passado, aeronaves vendidas pelos EUA a Israel tinham feito escala nas Lajes, sem conhecimento prévio da diplomacia portuguesa. Espanha recuou a passagem no seu espaço aéreo desse armamento dos EUA com destino a Israel, mas Portugal aceitou O que gerou uma troca de acusações entre os ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Defesa sobre a responsabilidade da autorização da utilização das Lajes. A conclusão foi que se tratou de uma falha interna de comunicação do ministério de Paulo Rangel. Algo que não pode ser invocado neste caso. Tomé Ribeiro Gomes, professor de relações internacionais da Universidade da Beira Interior e da Universidade Católica, é o convidado deste episódio, no qual afirma que “Portugal não tem consciência da importância estratégica dos Açores.See omnystudio.com/listener for privacy information.
A última divulgação de documentos relacionados com o caso de Jeffrey Epstein, a 30 de Janeiro deste ano, teve grandes repercussões no Reino Unido e nos EUA, mas não só. Em Londres, o ex-príncipe André foi detido no âmbito deste caso e está a ser investigado por má conduta em funções públicas. E Peter Mandelson, ex-embaixador do Reino Unido nos EUA, também foi detido, na última segunda-feira, após novas revelações sobre a sua associação a Epstein, condenado por crimes sexuais, que se suicidou na prisão, antes de ser julgado. Mandelson, que foi um influente ministro em vários governos trabalhistas, é suspeito de abuso de cargo público e o seu envolvimento neste escândalo gerou uma crise em Londres e pressões para que o primeiro-ministro se demitisse. Nos EUA, o Departamento de Justiça é acusado de ocultar ou remover mais de 50 páginas de documentos que mencionam o presidente Donald Trump, violando a lei da transparência. O caso Epstein está longe de ter acabado do ponto de vista político. A antiga secretária de Estado, Hillary Clinton, depõe hoje perante congressistas, no âmbito da investigação deste caso, e o seu marido e ex-presidente, Bill Clinton, fará o mesmo amanhã. Já sabemos tudo sobre o caso Epstein ou ainda há segredos por revelar? Pedro Guerreiro, o jornalista do PÚBLICO que acompanha a actualidade política dos EUA, é o convidado deste episódio.See omnystudio.com/listener for privacy information.
Os EUA começaram a aplicar ontem novas tarifas alfandegárias gerais de 10%, após a decisão do Supremo Tribunal, que considerou que o Presidente não tinha poder para aplicar grande parte dos aumentos de taxas alfandegárias feitos ao longo do último ano Donald Trump recorreu a uma secção da Lei do Comércio de 1974, para contornar a decisão judicial, que tanto lhe desagradou, e que tem vastas implicações na economia mundial. Trump começou por falar na aplicação de uma taxa de 10%, que subiu um dia depois para 15%, e que depois baixou de novo para 10%. Neste momento, existem várias dúvidas. As tarifas vão manter-se neste último valor? Os 10% agora anunciados são acrescentados às tarifas já em vigor antes da chegada de Donald Trump à Casa Branca? No caso dos países da União Europeia, as taxas efectivas poderão superar os 15%, que foi o limite máximo estabelecido no acordo comercial estabelecido com os EUA? A União Europeia pretende congelar o processo de ratificação do acordo comercial com os EUA. E esta instabilidade, o proteccionismo de Trump, está a fazer com que o bloco europeu seja o destinatário das exportações portuguesas. Afinal, quem ganha e quem perde com as tarifas de Donald Trump? Questões para abordarmos, neste episódio, com Sérgio Aníbal, jornalista do PÚBLICO, especialista em macroeconomia.See omnystudio.com/listener for privacy information.
Foi há quatro anos. Com semblante carregado, tom de voz dramático, pausas profundas na conversa para respirar fundo, Vladimir Putin elencava num discurso de 28 minutos as razões que o levaram a atacar barbaramente a Ucrânia. Foi há quatro anos, mas é como se fosse ontem. Todos nos lembrámos das referências a uma operação militar especial para libertar Kiev dos neonazis e corruptos, para afastar a Nato das portas da Rússia, para garantir direitos básicos aos russos do Donbass. Todos sabemos que o que estava em causa era uma invasão à margem do direito internacional e da vontade da Ucrânia em assumir finalmente a sua soberania, como todos sabemos que a tal operação especial que deveria ficar encerrada em semanas dura há quatro anos. No horizonte das nossas vidas, poucos acontecimentos foram tão marcantes como esse fatídico dia 24 de Fevereiro de 2022. Os serviços de informações britânicos e americanos tinham avisado para a concentração de uma impressionante força militar nas fronteiras da Ucrânia, mas ninguém queria acreditar que a Europa pudesse assistir a uma violação tão flagrante das fronteiras nacionais. Depois de 2014, ano em que Putin invadiu e anexou o Donbass e a Crimeia, acreditava-se que os impulsos imperialistas do Kremlin estavam satisfeitos. O Ocidente, em especial os países europeus, não acreditavam que esse velho mundo baseado no poder das armas pudesse regressar. Os bálticos, ou a Polónia, conheciam melhor a Rússia do que nós e só eles foram capazes de antecipar o que veio a acontecer. Com várias tentativas de fazer a paz, um rasto de 1,2 milhões de baixas do lado da Rússia e umas 600 mil do lado da Ucrânia, um país destruído, uma ordem internacional desfeita e um novo equilíbrio global ameaçado por um presidente mitómano e irresponsável em Washington, a pergunta urgente que todos fazemos é: e agora, quanto tempo mais vai durar esta ignominia? Uma pergunta que decidimos colocar a José Pedro Teixeira Fernandes, Doutor em Ciência Política e Relações Internacionais, investigador do IPRI/NOVA—Instituto Português de Relações Internacionais, investigador associado do IDN—Instituto da Defesa Nacional e professor do ISCET—Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo na área das Relações Internacionais.See omnystudio.com/listener for privacy information.
Donald Trump disse, a 2 de Janeiro deste ano, que os EUA estavam preparados para atacar o Irão. Milhares de pessoas contestavam, então, o regime dos ayatollahs. Fontes oficiais confirmaram três mil mortes decorrentes dos protestos, enquanto médicos no terreno apontavam para as 30 mil vítimas mortais. Na semana passada, representantes dos dois países reuniram-se, em Genebra, na tentativa de chegarem a acordo sobre o desenvolvimento do programa nuclear iraniano. Na mesma cidade, e um dia depois, delegações do Irão, China e Rússia reuniam com o director-geral da Agência Internacional de Energia Atómica para discutir o enriquecimento de urânio. Os EUA têm vindo a concentrar na região um forte dispositivo militar, à semelhança do que fizeram na Venezuela, aquando do rapto de Nicolás Maduro, e Donald Trump estabeleceu um prazo de dez dias para se alcançar um acordo. Caso contrário, afirmou, poderão acontecer “coisas más”. Entretanto, vai tentando dar forma ao seu Conselho de Paz, com o qual quer supervisionar a ONU. O Irão, por seu turno, garante que o seu programa nuclear tem fins exclusivamente pacíficos, como diz o seu presidente, e já fez saber às Nações Unidas que vai responder de “forma decisiva” caso seja atacado. Washington quer travar o desenvolvimento iraniano de armas nucleares e, ao mesmo tempo, derrubar o regime teocrático? Afinal, porque é que os EUA querem atacar os EUA, pela segunda vez, em menos de um ano. A convidada deste episódio é Maria João Guimarães, jornalista do PÚBLICO que acompanha a situação política no Médio Oriente.See omnystudio.com/listener for privacy information.
A terceira ronda de negociações entre a Rússia e a Ucrânia, com vista a um cessar-fogo, foi em vão. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, explicou que, em Genebra, onde decorreram as negociações, se esteve mais próximo de concluir as negociações na via militar do que na via política. Percebe-se porquê. A Rússia exige que a Ucrânia ceda o território que controla no Donetsk como condição para o fim da guerra e os EUA querem que Kiev faça concessões territoriais antes de fornecer garantias de segurança. As negociações entraram num impasse e um sinal disso é o facto de os dois principais negociadores dos EUA, Steve Witkoff e Jared Kushner, não terem participado no último dia de negociações. Qual será o passo seguinte? Ainda vamos a tempo de um cessar-fogo até ao Verão, como pretende o presidente dos EUA, Donald Trump? O convidado do episódio de hoje, Manuel Serrano, especialista em assuntos europeus e política internacional, afirma que a “Rússia ainda não ganhou”. As receitas desceram, o défice aumentou e um novo pacote de sanções que a União Europeia irá aplicar vão criar dificuldades à economia russa e ao seu esforço de guerra. No final de contas, diz Manuel Serrano, Vladimir Putin só "cederá quando for obrigado a ceder".See omnystudio.com/listener for privacy information.
Luís Montenegro, no debate quinzenal de 5 de Dezembro, dizia que a lei laboral era para continuar a trabalhar. A greve geral contra a proposta do Governo não tinha ainda acontecido, o que justificava o optimismo do primeiro-ministro. A greve aconteceu, e apesar de o Governo a ter considerado inexpressiva, deixou no ar a sensação de que uma ampla base dos trabalhadores contestavam as suas disposições. Pelo meio, a campanha eleitoral, apropriou-se do tema e deixou o candidato do Governo, Luís Marques Mendes, na posição solitária e desconfortável de a defender. Não se podem subestimar os custos políticos desta posição. A lei laboral foi uma pedra no sapato de Marques Mendes. Depois de o presidente eleito reassumir a sua ideia de vetar o diploma caso seja aprovado no parlamento sem o compromisso da concertação social, Luís Montenegro admitiu a necessidade de o reapreciar. E de o negociar em primeiro lugar com os sindicatos e os patrões. Mesmo que a ministra do trabalho, Maria Rosário Palma Ramalho, insista em manter as suas traves mestras, criou-se a expectativa no país de que a negociação e um acordo eram possíveis. A reunião marcada para ontem com os parceiros sociais, excluindo a CGTP, poderia deixar no ar essa possibilidade de entendimento. A reunião acabaria por não acontecer por causa da ausência do líder da UGT, que tinha outros compromissos para esse dia. Quem determinou o seu cancelamento, porém, foram os patrões, não o Governo. Um novo encontro foi entretanto agendado para a semana. Fica assim em suspenso o primeiro passo em busca de um compromisso. De um lado, está uma proposta da UGT que faz tábua rasa das supostas traves mestras da ministra. Do outro, a proposta do Governo eventualmente polida para dar espaço às negociações. O que está, afinal, neste momento em causa? Como podemos antecipar o que vai acontecer a seguir? Haverá espaço para um acordo, ou as posições entre governo e sindicatos estão tão distantes que a conflitualidade política e social pode vir a continuar? Para este episódio do P24 onde queremos discutir estas questões, convidámos Raquel Martins. A Raquel é jornalista do PÚBLICO especializada nas questões do trabalho.See omnystudio.com/listener for privacy information.
"Ninguém perde a face se a revisão constitucional for feita rapidamente para permitir um referendo nacional". "O referendo é uma arma democrática e uma arma democrática nunca é um truque político. O truque político é recusar aos portugueses um referendo nacional." Quem assim falava é o actual presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já lá vão 30 anos, quando na qualidade de líder do PSD se dirigiu à plateia do II Conselho Nacional da Juventude Social Democrata, JSD. Como se sabe, o referendo de que Marcelo falava avançou dois anos depois, em 1998, com os resultados que se conhecem até hoje. Os portugueses disseram não à regionalização e a exigência de um referendo para se avançar com este processo inscrito na Constituição foi uma das pedras no sapato que continuam a travar uma reforma que boa parte dos estudiosos continuam a considerar essencial para reequilibrar o modelo de desenvolvimento de Portugal e a tornar mais eficiente a governação. Sendo um tema que a cada passo regressa à actualidade Política, a Regionalização impôs-se por estes dias com as calamidades do clima. Nas tarefas de prevenção e socorro, quem se destacou foram os autarcas e quem saiu mal na fotografia foi o governo central. O problema é que as autarquias são unidades administrativas pequenas e mal financiadas (só são responsáveis por apenas 14% da despesa geral do Estado, quando a média europeia é de 34%). E, ao contrário da maioria esmagadora dos países desenvolvidos, em Portugal não há autarquias regionais, as regiões administrativas, capazes de tapar o fosso gigante entre os municípios e o Estado central. Portugal é assim o mais centralizado país da União Europeia, ou da OCDE. E os custos medem-se não apenas na debilidade das respostas de prevenção e socorro em catástrofes como as que vivemos. Medem-se também no caos no ordenamento do território ou na ausência de políticas públicas desenhadas para acolher a realidade física ou económica das diferentes partes do país. Com o evoluir do tempo, Marcelo foi mostrando mais abertura à urgência da regionalização. No Governo PS, António Costa escolheu um caminho, o do reforço de competências e da autonomia das Comissões de Coordenação Regional, que os interesses partidários do PS e do PSD entretanto enterraram. E o actual Governo da AD, não quer ouvir falar de Regionalização durante esta legislatura. Como suprir esta carência na arquitectura institucional do Estado português, carência sublinhada por estudos académicos ou pelo grande relatório produzido pela Assembleia da República sob a liderança de João Cravinho de 2018? Vamos tentar perceber o que está em causa com José Rio Fernandes. Professor catedrático no departamento de Geografia da Universidade do Porto, Rio Fernandes foi um dos mentores de um manifesto em favor da regionalização publicado no Público no dia 12 deste mês. Esse manifesto, que apelava ao debate sobre a urgência da regionalização, foi assinado por dezenas de personalidades, entre académicos, autarcas e ex-ministros. Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts. Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.See omnystudio.com/listener for privacy information.
Durante décadas, acreditámos que o progresso na medicina era uma estrada de sentido único, mas o último ano veio provar que não há conquistas irreversíveis. Nos Estados Unidos, a dupla Donald Trump e Robert Kennedy Jr. transformou a saúde pública num território de incerteza e teorias da conspiração. Em apenas doze meses, vimos o regresso de doenças que julgávamos controladas. E, com o corte de milhares de bolsas de investigação e a saída da Organização Mundial de Saúde (OMS), os Estados Unidos estão a abdicar do seu papel de "farol" da ciência, deixando um vazio que a China se apressa a ocupar. Para analisarmos este recuo histórico e as suas implicações para o mundo e para a Europa, está neste P24 o jornalista do PÚBLICO, Tiago Ramalho.See omnystudio.com/listener for privacy information.
Culturas alagadas, plantações varridas pelo vento, milhares de árvores de fruta ou olival arrancadas, equipamentos e estruturas destruídas. Vai demorar tempo até se conhecerem em profundidade os danos causados pelas últimas tempestades na agricultura portuguesa. Num negócio onde o tempo da sementeira ou da colheita conta, os atrasos e contratempos custam dinheiro e põe em causa a sobrevivência das explorações menos preparadas. Ainda por cima, as tempestades afectaram algumas das regiões mais produtivas e ricas da agricultura portuguesa: o Oeste, o vale do Lis e do Mondego, o Sorraia ou a Lezíria do Tejo. Num momento de incerteza e aflição, o Governo promete ajudas. Prejuízos abaixo dos dez mil euros, são compensados na íntegra. E dependendo de factores como ter ou não ter seguro agrícola, as grandes explorações que provem maiores danos podem receber até 400 mil euros do Estado. Em causa estão medidas para acudir a prejuízos que a Confederação dos Agricultores de Portugal situa nos 350 milhões de euros, mas que outras análises elevam para os 700 milhões. O que está em causa é para muitos agricultores uma questão de vida ou de morte. Alguns estão à espera ainda de apoios prometidos em intempéries anteriores e entre o sector reina a apreensão. Sendo um sector particularmente sensível às consequências da crise climática, os seus agentes podem encontrar na crise actual algumas respostas para o que lhes pode acontecer no futuro. A maioria, porém, promete lutar. Vencer adversidades faz parte da história dos agricultores, em especial dos que trabalham nas margens dos rios – a destruição da depressão Kristine é de outra dimensão. É assim desde tempos imemoriais. Para perceber melhor essas expectativas e essas respostas, contamos neste episódio com João Coimbra, agrónomo, proprietário da Quinta da Colda, no Ribatejo, considerado um dos mais eficientes produtores de milho do mundo.See omnystudio.com/listener for privacy information.
Espanha quer os menores de 16 anos fora do “faroeste digital” das redes sociais, como diz o primeiro-ministro Pedro Sánchez, e introduzir mecanismos de verificação de idade que realmente funcionem, tal como pretendem França e Portugal. O PSD quer travar o uso livre de redes sociais e de outras plataformas por menores de 16 anos, que ficam condicionadas ao consentimento dos pais. Caso a proposta avance, os adolescentes podem continuar no TikTok e no Instagram, por exemplo, entre os 13 e os 16 anos, se os pais o autorizarem. E a utilização autónoma só será possível a partir dos 16. A Austrália foi o primeiro país a definir esta como a idade mínima de acesso às redes. Um estudo divulgado meses antes referia que sete em cada dez crianças e jovens utilizadores haviam sido expostos a conteúdo prejudicial, incluindo material misógino e violento. As crianças mais novas devem ser proibidas de aceder a redes sociais e de utilizar telemóveis mas escolas? Laura Sanches, psicóloga clínica, autora de vários artigos sobre o tema no PÚBLICO e de livros sobre parentalidade é a convidada deste episódio.See omnystudio.com/listener for privacy information.
Nos últimos dias abundaram naturalmente as tentativas de definir o presidente eleito António José Seguro em categorias simples. Os portugueses estão ávidos de informação sobre o seu novo chefe de Estado. Precisam de o conhecer para lá da moderação que lhe moldou a campanha, do apego à democracia que lhe atribuem, ou das suas mensagens políticas principais. Desde a sua vontade de ser o presidente de todos os portugueses ao presidente que quer um chão comum onde o sentimento de união do país se possa consolidar. Mas, afinal quem é o novo Presidente? Para lá destas apreciações superficiais, do tipo homem-moderado, democrata ou homem mais voltado para a conciliação do que para o conflito, subsistem dúvidas. Como não podia deixar de ser. Seguro já disse que não será oposição. Quererá isso dizer que se vai comportar como o menino das alianças, sempre de mão dada com o Governo? Há quem recorde o episódio da abstenção violenta na votação do orçamento de 2012 para tecer esse cenário. Vale a pena recordar que essa sua decisão foi um acto de enorme coragem política. O PS mais radical jamais lhe perdoou. Seguro disse também que tem a estabilidade política como um valor absoluto, e tudo fará para a promover. Não demitirá um governo caso o seu orçamento seja chumbado e promete ser um agente empenhado na busca de compromissos. Isto quer dizer o quê? Que preferirá a confusão duradouro às clarificações que por vezes são necessárias? Eleito com um extraordinário capital político, António José Seguro é, como diz António José Teixeira, jornalista da RTP o presidente homem normal. Terá a sensatez, a visão, a inteligência para presidir a um país com enormes desafios pela frente? Temos de o conhecer melhor e para esse efeito pedimos ajuda à jornalista do PÚBLICO Maria do Céu Lopes. A Maria acompanhou par e passo as duas campanhas de António José Seguro.See omnystudio.com/listener for privacy information.
Primeira surpresa, na primeira volta das Presidenciais, dia 18 de Janeiro de 2026: contra a maior parte das sondagens e expectativas, António José Seguro surge como o vencedor com quase mais oito pontos percentuais do que o seu adversário, André Ventura. Segunda surpresa, segunda volta das Presidenciais, dia 8 de Fevereiro: apesar de vários receios associados ao nível da abstenção ou ao descontentamento agravado pela crise da tempestade Kristin, António José Seguro vence as eleições com mais de dois terços dos votos expressos pelos portugueses. Com duas tão evidentes vitórias do Presidente eleito, era normal que se extraíssem conclusões óbvias como a que aponta uma vitória clara do candidato moderado ou uma derrota óbvia do candidato extremista. Isso aconteceu, mas aconteceu também outra coisa: houve mais portugueses a votar em Ventura, o que permite envolver o futuro da sua carreira política na categoria das incógnitas. Seguro foi eleito com a maior votação de sempre em Portugal, mais de 3,4 milhões de votos. A sua legitimidade é indiscutivelmente forte. O novo presidente dispõe de uma inquestionável força política para exercer as suas funções. Ventura foi derrotado por uma ampla coligação do campo democrático. Mas saiu de cena com um forte pecúlio eleitoral, mais de 1,7 milhões de votos – quase mais 400 mil votos do que na primeira volta, mais 300 mil que nas legislativas do ano passado. Esta força, já se pressentia e vai influenciar a dinâmica do parlamento e a relação de forças entre o Chega e o Governo. Estaremos a entrar numa nova fase da política portuguesa, ou, como dizia Luís Montenegro, a noite de domingo não mudou nada? É caso para dizermos que nestas eleições a dinâmica da direita radical foi travada? Ou que, por oposição, os portugueses deixaram no ar uma prova inequívoca da sua adesão ao sistema? Vamos fazer o rescaldo de uma das eleições presidenciais mais importantes de sempre como o professor António Costa Pinto, Doutorado pelo Instituto Universitário Europeu (1992, Florença) é presentemente Investigador Aposentado no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e Professor Convidado no ISCTE, Lisboa.See omnystudio.com/listener for privacy information.
E António José Seguro fez história. Ultrapassou os recordes anteriores de Mário Soares e de Ramalho Eanes em eleições presidenciais e, com o discurso insistente da moderação, voltou pela porta grande para o mais alto cargo da nação, onze anos e meio depois de sair cabisbaixo e sozinho da sede do PS do Largo do Rato ao perder as primárias para António Costa. Já definiu o caderno de encargos para o mandato, deixa um aviso — "Jamais serei um contra poder, mas serei um Presidente da República exigente com os resultados" e de "todos, todos, todos os portugueses" — e sossega Montenegro: “Não será por mim que a duração da legislatura será interrompida”. Neste P24 converso com o editor de política do PÚBLICO, David Santiago.See omnystudio.com/listener for privacy information.
Faltavam menos de 48 horas para o final da campanha da segunda volta das eleições presidenciais e um dos candidatos avança com uma solução radical: adiar as eleições. A lei eleitoral para o Presidente da República não prevê um adiamento geral do ato eleitoral, apenas adiamentos em secções de voto determinadas pelos presidentes de Câmara. Mas o apelo de André Ventura exprime bem a complexidade desta campanha estranha em que se falou mais do clima do que de política. Ventura, um jurista, sabe que o seu pedido não tem cabimento legal, mas o seu instinto político leva-o a aproveitar a intempérie para se recolocar onde mais gosta de estar: no centro das atenções. Seja como for, as marcas da vaga de depressões que aconteceram nas duas últimas semanas da campanha são indeléveis. O país, naturalmente, focou-se mais no drama dos portugueses afectados do que nas mensagens dos candidatos. Convidámos para discutir estes temas o economista Rui Moreira. Foi, até Novembro, presidente da Câmara Municipal do Porto e foi também mandatário nacional da candidatura de Luís Marcos Mendes. Depois dos resultados da primeira volta, Rui Moreira tornou público o seu apoio a António José Seguro.See omnystudio.com/listener for privacy information.
A depressão Leonardo provocou cheias em Grândola e Alcácer do Sal e suspendeu comboios na linha do Sul. 83 mil clientes da E-Redes continuavam sem electricidade e o Estado assumiu custos de 459 milhões de euros com linhas de crédito para as empresas afectadas pela tempestade Kristin. O acesso a apoios de dez mil euros exige provas de que seguros foram accionados e particulares, pequenas empresas e instituições têm de ter a sua situação regularizada perante o Estado. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve ontem na região Centro, onde defendeu uma maior ligação entre as Forças Armadas e a Protecção Civil, e disse o que achava da comunicação do Governo às populações: “Não correu bem”. E criticou as operadoras de telecomunicações, que se portaram mal. O país ainda não recuperou de uma tempestade e vai ser obrigado a confrontar-se com novas e violentas intempéries, que também se abatem sobre Espanha e Marrocos. Vem aí mais um rio atmosférico? O que é que isso significa? Há uma relação entre a sucessão de tempestades que atingiu a Península e as alterações climáticas? Para responder a estas e outras questões, convidamos Andrea Cunha Freitas, jornalista do Azul, a secção do PÚBLICO dedicada à crise climática, ambiente e sustentabilidade.See omnystudio.com/listener for privacy information.
O primeiro-ministro esteve ontem em Pombal, para avaliar os estragos da depressão Kristin em duas empresas, rejeitou as críticas às respostas do Estado nesta situação de emergência e anunciou a isenção de portagens em quatro auto-estradas das zonas afectadas. As críticas à actuação das diferentes estruturas do Governo destinam-se, sobretudo, à ministra da Administração Interna e já se fazem ouvir dentro do próprio PSD. A Kristin foi embora e chegou a depressão Leonardo. A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil alertou para a possibilidade de inundações em zonas urbanas, cheias, derrocadas e acidentes em zonas costeiras, até quinta-feira, devido à passagem da depressão Leonardo por Portugal continental. Algarve, Alentejo e Lisboa são as regiões onde se prevê que o impacto da chuva e do vento seja maior. A GNR e a Protecção Civil recomendam a preparação de um kit de emergência para 72 horas e evitar deslocações desnecessárias em zonas costeiras ou arborizadas. Manuel João Ribeiro, professor do ISEG e investigador do Iscte, ex-presidente e vice-presidente do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, é o convidado de hoje. Neste episódio, Manuel João Ribeiro diz que falta uma cultura de prevenção e defende uma melhor articulação entre os planos de protecção civil municipais e nacionais.See omnystudio.com/listener for privacy information.
Enquanto no debate político se fazem as tradicionais operações de passa-culpas, os jornalistas empenharam-se em ir ao terreno para ver uma região a recuperar dos estragos da catástrofe Kristin. As imagens, os textos, os sons que nos fizeram chegar são arrepiantes. Um país destruído onde vivem pessoas aflitas e preocupadas com o presente e os custos dos estragos no futuro. Um país onde, uma vez mais, foi o poder político de proximidade, as autarquias, ou as instituições de proximidade, os bombeiros, a GNR ou a polícia, que deram as respostas mais eficazes. Um país que, tivemos uma vez mais a certeza, fez pouco para se preparar para a devastação dos fenómenos climáticos extremos. Com a ferida ainda aberta, importa saber o que aconteceu às pessoas e que custos os estragos ou a ausência do poder podem ter causado nas comunidades afectadas. A jornalista do PÚBLICO Paula Sofia Luz vive em Pombal e acompanhou a catástrofe desde o princípio. No primeiro dia, recordava a sua experiência assim: “Às 3 horas da manhã a chuva em Pombal era tão intensa que me trouxe à memória a enxurrada de 2006, quando aqui percebemos que, afinal, o nosso maior medo só era o fogo até percebermos o quanto pode a água. Sabemos agora que é o vento, afinal, o mais perigoso”.See omnystudio.com/listener for privacy information.
António José Seguro vive assombrado pelo drama da abstenção. Desde que a corrida pela segunda volta começou, o candidato tem feito sucessivos apelos à mobilização dos seus eleitores. Ter mais votos, significa mais legitimidade, disse. As sondagens, não ganham eleições, afirma e repete a cada passo. Com a sondagem do CESOP, da Universidade Católica, para o PÚBLICO/RTP e antena 1 a dar-lhe uma vitória de 70% contra o seu opositor, André Ventura, Seguro sabe que tem de enfrentar uma ameaça: a dos eleitores que ficam em casa por saberem que não vale a pena perder tempo a votar num candidato que já ganhou. Perante este cenário, uma das estratégias de André Ventura é colocar no ar dúvidas aos eleitores da direita moderada que de alguma forma se sentem inclinados para o seu adversário. O ataque às personalidades dessa área política que recomendaram o voto em Seguro é uma das faces dessa estratégia. A abstenção nas presidenciais é por regra superior à das legislativas. Na primeira volta, registou o valor mais baixo em 20 anos de eleições do Presidente da República – 47,65%. Em escolhas com vencedor antecipado, porém, como aconteceu com a segunda eleição de Marcelo Rebelo de Sousa, a abstenção chegou aos 60,8%. Uma vez que este fenómeno tende a prejudicar mais o candidato favorecido nas sondagens do que o eleitorado mobilizado e fiel de Ventura, compreende-se a preocupação de Seguro e a estratégia do seu oponente. Vamos tentar perceber o que está em causa com os eventuais cenários da abstenção no próximo domingo. Convidámos assim para este episódio João António, Director do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa (CESOP) e investigador no Centro de Investigação do Instituto de Estudo Políticos da mesma universidade.See omnystudio.com/listener for privacy information.
Os EUA enviaram para o Golfo Pérsico uma frota maior do que aquela que tinham enviado para a Venezuela, aquando do rapto de Nicolás Maduro. E o presidente dos EUA voltou a ameaçar o Irão e disse esperar que a república islâmica se sente à mesa para negociar um acordo sobre o seu programa nuclear. Os EUA querem que o Irão termine de vez com este programa nuclear (permitindo a entrada de peritos da ONU e dando a gestão do seu urânio enriquecido a um país terceiro), querem acabar com a capacidade iraniana de disparar mísseis de longo alcance e remover o seu líder supremo, Ali Khamenei. No início do mês, Trump mostrou-se disposto a intervir e disse que a “ajuda” estava “a caminho”, em resposta à repressão brutal das autoridades sobre os iranianos que participaram em manifestações em massa contra a liderança do país. Os EUA vão mesmo atacar o Irão? E se isso acontecer, que efeitos terá esse ataque na região e como reagirá a China? Pequim alertou contra o “aventureirismo militar” dos EUA. “O uso da força não resolve os problemas” disse o embaixador chinês na ONU. Tiago André Lopes, professor de Estudos Asiáticos e Diplomacia na Universidade Lusíada do Porto, é o convidado do P24 quando se fala do Irão.See omnystudio.com/listener for privacy information.










(voltou aquele problema de ficheiro “não escutável” .... cuidado se estiverem a conduzir e o programa de podcasts ficar parado)
Não gostei do comentário de hoje.