Discover Oxigênio Podcast
Oxigênio Podcast

Oxigênio Podcast
Author: Oxigênio Podcast
Subscribed: 869Played: 17,436Subscribe
Share
Description
Podcast e programa de rádio sobre ciência, tecnologia e cultura produzido pelo Labjor-Unicamp em parceria com a Rádio Unicamp. Nosso conteúdo é jornalístico e de divulgação científica, com episódios quinzenais que alternam entre dois formatos: programa temático e giro de notícias.
262 Episodes
Reverse
Este é o segundo episódio da série de podcasts Ugo Giorgetti em 4 documentários e trata de dois médias-metragens: “Variações Sobre Um Quarteto de Cordas” e “Santana em Santana”, documentários produzidos pelo diretor e produtor, que também são muito diferentes entre si, mas que têm um ponto crucial em comum. No episódio, Liniane Brum e Mayra Trinca revelam como eles entrelaçam as trajetórias de vida de dois artistas, em meio ao desenvolvimento da cidade de São Paulo.
_____________________________
Roteiro
[Som de tráfego em cidade: buzinas, carros, ruídos de fundo.]
Mantém em BG até entrada da música de transição.
LINI: Esse é o segundo episódio da série de podcasts Ugo Giorgetti em 4 documentários.
Meu nome é Liniane Haag Brum, sou doutora em teoria e crítica literária pela Unicamp e realizei a pesquisa de pós-doutorado “Contra o apagamento – o cinema de não ficção de Ugo Giorgetti” também na Unicamp, no Labjor, com o apoio da Fapesp.
Essa pesquisa surgiu da descoberta de uma lacuna. Percebi que não havia nenhum estudo sobre a obra de não ficção de Giorgetti. Apesar de ela ser tão expressiva quanto a sua ficção, e mais extensa.
MAYRA: E eu sou a Mayra Trinca, bióloga e mestra em Divulgação Científica e Cultural pelo Labjor. Você já deve me conhecer aqui do Oxigênio. Eu tô aqui pra apresentar esse episódio junto com a Liniane. Nele, vamos abordar os médias-metragens “Variações sobre um Quarteto de Cordas” e “Santana em Santana”.
[Música de transição – tirar da abertura de “Variações Sobre um Quarteto de Cordas”]
LINI: No primeiro episódio, apresentamos os documentários “Pizza” e “Em Busca da Pátria Perdida”, destacando os procedimentos e recursos de linguagem empregados pelo cineasta para retratar a complexidade da capital paulista.
MAYRA: Em “Pizza”, as contradições de São Paulo surgem na investigação de pizzarias de diversas regiões, por meio de depoimentos de seus donos, funcionários, clientes e pizzaiolos. Já “Em Busca da Pátria Perdida” se concentra no bairro do Glicério, e registra a experiência de migrantes e imigrantes que encontram acolhida e fé na Igreja Nossa Senhora da Paz. Se você ainda não ouviu, é só procurar por “Ugo Giorgetti” no nosso site ou no seu agregador de podcasts.
LINI: Nesse segundo episódio, vamos falar sobre dois médias-metragens: “Variações Sobre Um Quarteto de Cordas” e “Santana em Santana”, documentários que também são muito diferentes entre si, mas que tem um ponto crucial em comum. Vamos revelar como eles entrelaçam as trajetórias de vida de dois artistas, ao desenvolvimento da cidade de São Paulo.
(pausa)
Vinheta Oxigênio
LINI: Se você não tem muita ligação com a música de câmara, seja tocando, estudando ou pesquisando o tema, é provável que nunca tenha ouvido falar em Johannes Olsner.
“Variações Sobre Um Quarteto de Cordas” retrata a trajetória profissional desse violista que chegou no Brasil em 1939, vindo da Alemanha para uma turnê musical, e nunca mais voltou pra casa.
MAYRA: Sobre esse documentário o crítico literário e musical Arthur Nestrovski escreveu o seguinte na Folha de São Paulo, em setembro de 2004:
“O filme é muito simples. O que, no caso, é uma virtude: (…) a vida de Johannes Oelsner se confunde com a arte que praticou ao longo de quase 70 anos de carreira.”
LINI: O violista alemão fez parte da formação inicial de músicos do que é hoje o Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo.
[Música de transição – escolher excerto de “Variações Sobre um Quarteto de Cordas”]
MAYRA: Talvez você esteja se perguntando o que é um quarteto de cordas…
Vamos por partes:
Um quarteto de cordas é uma das formações mais emblemáticas da música de câmara e reúne quatro instrumentistas em dois pares: dois violinos, uma viola e um violoncelo.
[Entra música de fundo: escolher excerto de “Variações Sobre um Quarteto de Cordas”] [Sugestão – time code do Youtube – 09:32 até 10:42]
A expressão “música de câmara” tem sua origem na “musica da câmera”, termo italiano que significa “música para a sala”. É originalmente um gênero de música erudita para ser tocada em ambientes privados e íntimos, como nos aposentos palacianos e gabinetes da aristocracia, – e não nas grandes salas de concerto.
LINI: A música de câmara pode ter diferentes formações, como por exemplo um dueto ou um quinteto.
Mas – sim! – o quarteto é a sua forma mais clássica.
[Música de transição]
Embora os quartetos de cordas se dediquem a um repertório de alto refinamento artístico, sua presença no Brasil é pouco comum.
Foi pensando nisso que perguntei pra Ugo Giorgetti por que motivo ele decidiu fazer um documentário sobre um tema tão específico. Ouve só como foi a nossa conversa:
LINI: Sobre o quarteto de cordas eu queria perguntar o seguinte: é um tema restrito? Fica um documentário mais assim, restrito, você acha?
GIORGETTI: O Quarteto de Cordas é só um lado do documentário. Ele fala também de São Paulo, ele fala do Mário Andrade, ele fala do Prestes Maia, ele fala um monte de coisa. Ele fala da durabilidade do tempo, esse negócio se transformou em uma coisa que durou 37 anos tocando juntos. Esses caras envelheceram juntos.
[Música de transição – trecho de “Variações Sobre um Quarteto de Cordas”]
GIORGETTI: Quando eu fiz o documentário, esse quarteto já não existia mais naquela forma original. Já passou por outras formas, mas é sempre o Quarteto de Cordas do município de São Paulo. Então, nenhuma coisa é tão fechada assim.
MAYRA: Retomando a trajetória de Johannes Olsner: sua formação como músico erudito começou cedo e se deu por meio do aprendizado do violino. Foi só mais tarde, quando já tocava profissionalmente, que ele chegou à viola que lhe acompanhou ao longo da vida. Escuta o próprio Johannes falando um pouco sobre isso:
[trecho do documentário] – Johannes Olsner: Estudei primeiro violino, comecei com 9 anos o violino, então eu me apresentei no Conservatório Real de Dresden. Aí quem me ouviu foi o grande professor Henri Marteau, francês. Depois, com 13 anos, me deram uma bolsa de estudo integral. Eu me formei, depois ganhei o meu diploma, etc, etc. Isso foi em 1935, até 1937.
[trecho de MOZART em violino]
LINI: O violista já tocava no prestigioso Quarteto Fritzsche de Dresden, ainda na Alemanha, quando recebeu a notícia que iria sair em turnê para as Américas.
No dia 9 de março de 1939, aos 24 anos, ele e seus parceiros musicais pegaram um navio, em Bremen, também na Alemanha.
[Efeito de som do mar]
Primeira parada: Panamá, por três dias. Depois Argentina, onde tocaram na escola alemã e permaneceram por semanas a fio. Em seguida Montevidéu, onde fizeram quatro concertos. E, finalmente, aportaram no Rio de Janeiro.
[Efeito de som do mar]
[trecho do documentário] – Johannes Olsner: Chegamos dia 26 de julho de 1939, com bastante atraso, mas aqui no Brasil.
LINI: Veio a Segunda Guerra, ele e os colegas permaneceram em terras brasileiras.
[trecho do documentário] – Johannes Olsner: A gente pode dizer mesmo o Deus é brasileiro, né? Eu tive sorte lá, com entrar no Quarteto e tudo assim, mas aqui, olha que, eu sempre digo para todos vocês que são brasileiros natos: pode ficar contente, porque é a melhor terra que tem. Fora de tudo que tem, olha que, é a melhor terra que tem.
LINI: Olsner criou raízes em São Paulo. Em 1944, mesmo ano em que se casou, entrou para o Quarteto Haydn.
MAYRA: O Quarteto Haydn do Departamento de Cultura de São Paulo representa a fase inicial e histórica do que hoje é o Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo. Sua origem remonta a 1935, quando foi fundado por iniciativa de Mário de Andrade, que na época era o diretor do Departamento. A formação respondia a um antigo anseio do escritor, crítico musical, ensaísta e professor de música. Entre outras tantas lutas culturais, Mário de Andrade acabou se tornando um verdadeiro paladino da construção de uma cultura musical consciente e autônoma para o Brasil.
A rememoração de Oelsner dá indícios dessa efervescência:
EXCERTO MÁRIO DE ANDRADE: Oelsner: Um dos primeiros concertos, me lembro, era em frente do Teatro Municipal, a velas. E então, aí o Mário, como disse, como assistiu todos os concertos, um dia ele chegou também. Ele dizia, seria possível tocar uma vez com o nosso quarteto aqui do teatro, do departamento. Então, como eu já falei para o senhor, fizemos o quarteto de Mendelssohn
[trecho do quarteto de Mendelssohn do documentário Variações(continuação do texto acima) ]
LINI: Pausa para um esclarecimento.
Você lembra que no primeiro episódio a gente falou da presença da literatura na obra de não ficção de Giorgetti? Pois é, “Variações sobre um quarteto de cordas” também revela essa face do diretor paulista. Na entrevista com Oeslner, ele não disfarça o interesse pelo escritor brasileiro Mário de Andrade.
[trecho do documentário] Ugo Giorgetti: O senhor lembra do bem do Mário de Andrade?
Oelsner: Sim, nós éramos amigos, que infelizmente eu tinha mais contato com ele de 44, quando eu entrei no departamento, até 45, e pobre Mário morreu em 45.
Ugo Giorgetti Como ele era?
Oelsner: Sempre alegre, sempre disposto, e qualquer coisa que o senhor disse, uma novidade, o senhor dizia, vamos ver. Sim, sim, sim. E marcava quanto se podia fazer. O Mário era formidável.
LINI: Eu perguntei ao diretor se ele de fato – abre aspas “perseguiu” – a presença e a figura de Mário de Andrade, na entrevista com o Oelsner. Ele respondeu que sim. E fez o seguinte relato:
[trecho do documentário] Ugo Giorgetti: Eu considero o Mário de Andrade o maior intelectual de São Paulo, de todos os tempos, porque ele era um grande poeta. Tem poemas que são fantásticos, citei um num artigo que escrevi sobre Abujamra, um poema dele, que dizia, “eu sou 300, sou 350, mas um dia eu toparei comigo.” Ele era um músico, ele dava aula no Instituto de Arte Dramática, professor, ele era um etnógrafo, ele saia pelo Brasil cantando folclore, ele era um professor, claro, político, na boa fase, na boa forma de político. Ele foi o primeiro secretário de Cultura de São Paulo. Eu procuro o M
No segundo episódio da série “Reparos de um Ataque – 8 de Janeiro”, Aurélio Pena, Marcos Ferreira e Rogério Bordini contam como é o delicado processo de restauro de obras de arte danificadas. É um trabalho minucioso que envolve vários experimentos, alguns deles realizados no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), usando as linhas de luz do acelerador de partícula Sirius. Eles também te contam como o restauro das obras danificadas nos ataques golpistas é um sinal de fortalecimento dos símbolos da democracia brasileira.
_____________________________________________________________________
ROTEIRO
“Série – Reparos de um Ataque – 8 de Janeiro” – Ep.2 Mãos à Obra
Presidente Lula: Hoje, é dia de dizermos em alto e bom som, ainda estamos aqui, ao contrário do que planejávamos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Se essas obras de arte estão aqui de volta, restauradas com esmero por homens e mulheres que a elas dedicaram mais de 1.760 horas de suas vidas, é porque a democracia venceu. Muito obrigado, companheiros.
Aurélio: Este é o segundo episódio da série sobre a restauração das obras vandalizadas no 8 de janeiro de 2023. Se você ainda não escutou o episódio anterior, dá uma olhadinha nele e aí volta pra cá, porque hoje nós vamos nos aprofundar em toda a ciência do restauro de uma obra rara e também pensar sobre o atual cenário da democracia brasileira.
Marcos: Eu sou o Marcos Ferreira, um dos apresentadores dessa série.
Aurélio: E eu sou o Aurélio Pena, e você está ouvindo o Podcast Oxigênio.
Aurélio: Uma das obras mais famosas entre as restaurações é o mural Mulatas à Mesa, de Di Cavalcanti, parte do acervo do Palácio da Alvorada. Natural da cidade do Rio de Janeiro, Di Cavalcanti viveu entre 1897 e 1976. O artista modernista produziu principalmente pinturas, desenhos, murais e caricaturas. Suas reconhecidas cores vibrantes e temas tipicamente brasileiros o tornaram um dos grandes nomes da pintura e do modernismo do Brasil.
Marcos: A obra, produzida em 1962, mostra uma cena na qual predominam figuras femininas, as chamadas mulatas, retratadas com curvas voluptuosas, pele morena e uma postura que mistura sensualidade e introspecção. Elas aparecem em um ambiente descontraído, cercadas por elementos tropicais, como frutas e flores, que evocam a exuberância e o calor do Brasil. A pintura é de grande importância porque reflete a valorização da cultura e da identidade nacional, exaltando a miscigenação como um elemento central do Brasil. Di Cavalcanti buscou celebrar a mulher brasileira, representando não apenas a sua beleza, mas também como um símbolo da força e do espírito nacional. Foi essa obra que levou sete facadas.
Aurélio: A cultura japonesa tem um tipo de arte chamado Kintsugi. Nela as rachaduras e avarias de um objeto são mantidas e valorizadas, normalmente com ouro. Essas imperfeições contam a história desses objetos.
Marcos: Uma lógica parecida com a do Kintsugi foi utilizada na restauração da Mulatas à Mesa, como nos contou a coordenadora do projeto de restauro, a professora Andréia Bachettini, que você também ouviu no primeiro episódio desta série.
Andréia Bachettini: Quando eu desembrulhei ela lá no início, em setembro de 23, eu fiquei muito impactada assim com a brutalidade que ela foi agredida. E o processo de restauração foi muito pensado assim, como que a gente vai não tirar o valor dessa obra, mas também a gente não podia esconder essas marcas que ela sofreu, essas sete perfurações que ela sofreu. Então a gente optou por remover esse reentelamento, o reentelamento, para os leigos, é colar uma tela para dar sustentabilidade à tela original. Então ela já tinha essa tela, ela tem a tela original, e colada a ela um outro linho que era um tecido bem resistente. Esses dois tecidos foram rasgados, inclusive a sustentação dela é feita com um bastidor em madeira que também foi quebrado, os montantes, as travas desse bastidor foram quebradas. Então a gente teve que fazer uma substituição de travas do bastidor, e aí optamos então por fazer um reentelamento com o tecido de poliéster de vela de barco, de vela, que é transparente assim, e não esconderia então as cicatrizes por trás da obra. Pela frente ela ficou imperceptível, a gente fez a restauração com a técnica de pontilhismo, que são sobreposição de pontinhos na cor, dando a ilusão de ótica da cor na superfície. Então ela fica imperceptível pela frente, mas pelo verso as marcas dessa restauração estão evidenciadas.
Aurélio: Ao destacar a figura da mulata, que frequentemente é marginalizada na sociedade brasileira, a obra também provoca reflexões sobre questões sociais, como a posição da mulher negra e mestiça no Brasil. Assim, vai além da mera representação de uma imagem, tornando-se um manifesto visual da busca por uma identidade cultural, nacional e autêntica no contexto modernista.
Marcos: O restauro de uma obra é extremamente sofisticado, e envolve profissionais de áreas das quais normalmente nem imaginamos. Um exemplo disso é que parte do projeto exigiu um estudo das tintas e vernizes utilizadas nos quadros danificados, feita por cientistas de materiais.
Andréia Bachettini: Falando um pouquinho do ofício, hoje a conservação e restauração não é só um artesanato, só o fazer, a habilidade manual. Claro que existe a necessidade de ter habilidade manual para interferir em uma obra, mas por trás de tudo isso, tem muita ciência, muito estudo. A gente tem que conhecer os materiais que foram feitos nessas obras. É um trabalho multidisciplinar, envolve profissionais da química, da biologia, da arquitetura, da física, da história da arte, da conservação e restauração, da museologia. Pensar como essa obra vai ficar exposta depois. Então são muitos profissionais envolvidos na restauração hoje.
Aurélio: Compreender com precisão a composição dessas tintas é uma etapa importante, pois permite aos restauradores recriar os materiais que serão utilizados para recuperar as obras, garantindo que elas fiquem quase como se fossem tocadas. Essa tarefa não é simples, já que muitas vezes as tintas usadas no passado são bem diferentes das que nós temos hoje. Além disso, é comum que artistas misturem diversos meios e pigmentos para conseguir os efeitos desejados. Em alguns casos, faziam as próprias tintas, sem deixar registro sobre esse processo.
Marcos: Para entender um pouco mais sobre como o estudo dos vernizes e tintas foi feito, conversamos com dois professores da Universidade Federal de Pelotas, o Bruno Nuremberg e o Mateus Ferrer, que atuaram nas análises químicas das obras danificadas pelos golpistas.
Aurélio: Bruno, você pode contar um pouquinho pra gente como se deu esse estudo?
Bruno Nuremberg: Em janeiro de 2024, a gente já estava montando o laboratório lá em Brasília para realizar esse projeto de restauro. Claro que a base dele é a parte do restauro dessas obras, mas ele também contou com várias ações pontuais, dentre elas a que eu e o Mateus a gente está desenvolvendo até agora, que seria o quê? Seria a pesquisa dos materiais presentes nesses bens culturais para fazer toda uma parte de documentação, um estudo dos materiais utilizados pelo artista, tentar descobrir novas informações.
Aurélio: E por que é feito um estudo dos materiais presentes nas obras?
Bruno Nuremberg: Então a gente pode utilizar essas técnicas na parte do pré-restauro. Por exemplo, eu tenho um quadro e nesse quadro eu preciso remover o verniz dele porque ele passou por um processo de oxidação.
Marcos: A oxidação que o professor Bruno mencionou é uma reação química que acontece com o oxigênio do ar e que acaba desgastando um material.
Bruno Nuremberg: Então se eu tiver conhecimento do material que compõe esse meu verniz, ou seja, do aglutinante, do polímero, eu vou conseguir estar direcionando um solvente muito mais adequado para ser aplicado nesse processo de remoção desse verniz. Outro ponto muito importante é que conhecendo esses materiais a gente também consegue direcionar mais corretamente, digamos assim, quais materiais devem ser utilizados no processo de restauração, no processo de intervenção. Então todo material que eu vou aplicar numa obra de arte, ele não pode ser exatamente da mesma composição. Ele tem que ter a mesma característica estética, mas a parte química dele tem que ser diferente. Por que isso? Porque daqui a 15, 20 anos um novo restaurador vai trabalhar em cima dessa tela e ele tem que distinguir os materiais que foram aplicados ali naquela intervenção. Eles têm que ser quimicamente diferentes. Então no futuro, daqui a 50, 100 anos, quando essa obra precisar passar por um processo de limpeza ou de reintegração pictórica, que seria o processo de repintar perdas, as pessoas já vão ter essas informações ali, quais materiais foram utilizados, vão ter, enfim, tudo caracterizado quimicamente, dados robustos e confiáveis do que aquela obra presença de materialidade. Então se eu tenho, por exemplo, uma pintura a óleo e eu vou fazer uma reintegração com óleo, se eu precisar retirar no futuro essa intervenção que eu fiz, eu vou estar causando um dano na pintura original que também era a base de óleo
Marcos: E Bruno, quais são os desafios na caracterização dos componentes químicos dessas obras de arte?
Bruno Nuremberg: Quando a gente se depara com esse tipo de amostra, a gente encontra desafios que, digamos assim, na pesquisa tradicional de engenharia de materiais, da química, a gente não tem. O número de amostras que a gente pode coletar de uma obra de arte, ele não é ilimitado. Então a gente tem que ter uma série de autorizações, a gente tem que ver, tem vários critérios que a gente tem que seguir para poder realizar essas amostragens. As amostras que a gente coleta tem em torno de um milímetro quadrado, digamos assim. Então são amostras super pequenas. Então a gente tem numa pintura, por exemplo, tu vai encontrar aglutinantes de vernizes, tu vai encontrar cargas, tu vai encontrar aditivos, tu vai encontrar pigmentos, tu vai encontrar dois, três tipos de
No primeiro episódio do ano, Aurélio Pena, Marcos Ferreira e Rogério Bordini retomam os eventos do 8 de janeiro de 2023 para pensar como a destruição de obras de arte reflete a forma de pensar que motivaram as ações golpistas nesse dia. E depois, como o restauro dessas obras pode ajudar a elaborar a reconstrução da democracia no país? No episódio, você escuta pesquisadores que explicam os impactos dos atos golpistas e também como foi o processo de restauro das obras danificadas.
_________________________________________________________________________________________________
ROTEIRO
“Série – Reparos de um Ataque – 8 de Janeiro” – Ep.1 Restauros de um golpe
Golpistas: Quebra tudo. Vamos entrar e tomar o que é nosso. Chega de palhaçada.
Marcos: Quebradeira, gritaria e confusão. Ouvindo essa baderna, pode-se imaginar que estamos falando de um cenário de guerra. Mas esse foi o som ouvido durante os ataques antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023 em Brasília.
Golpistas: Entremos no Palácio dos Três Poderes.
Telejornalista: Milhares de pessoas invadiram a sede dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Elas não aceitavam a derrota de Jair Bolsonaro e pediam um golpe de Estado.
Golpistas: Intervenção federal. Intervenção federal.
Telejornalista: De lá pra cá, investigações da Polícia Federal descobriram que a tentativa de golpe começou meses antes. Políticos e militares alinhados a Bolsonaro se reuniram e elaboraram planos para permanecer no poder. Para eles, era importante que os manifestantes se mantivessem exaltados.
Aurélio: Durante o atentado, os golpistas danificaram diversas obras de arte do Acervo Nacional, sendo elas de valor inestimável para a cultura, memória e história do nosso país. Quadros como o Mulatas à Mesa, do pintor Emiliano di Cavalcanti, o retrato de Duque de Caxias, do artista Oswaldo Teixeira e o Relógio de Baltasar Martinot são apenas alguns dos itens danificados e destruídos.
Marcos: Os escombros de toda essa devastação não foram simplesmente abandonados. Hoje, tais obras estão restauradas, quase como se nada tivesse acontecido naquele dia fatídico. E é isso que a gente vai contar pra você nesta série, com dois episódios. No episódio de hoje, vamos rememorar como foi o dia da invasão à Brasília. Vamos também conhecer um pouco sobre as etapas do processo de restauro das obras que pertencem ao nosso Acervo Nacional, que você já consegue visitar novamente. E no próximo episódio, vamos explorar mais detalhes dos desafios técnicos e científicos em se estudar e restaurar as obras raras no Brasil, de forma mais aprofundada.
Aurélio: Eu sou Aurélio Pena.
Marcos: E eu sou o Marcos Ferreira.
Aurélio: Nosso editor é Rogério Bordini. E este é o podcast Oxigênio.
Vinheta: Você está ouvindo Oxigênio.
Aurélio: Para entender a importância desse restauro, primeiro a gente precisa saber um pouquinho sobre o que foi o 8 de janeiro.
Marcos: A mudança do ano de 2022 para 2023 foi o período de troca entre governos presidenciais no Brasil. Em 2022, o atual presidente Lula foi eleito com 50,9% dos votos contra 49,1% para o agora ex-presidente Bolsonaro, durante o segundo turno das eleições. Essa disputa acirradíssima representa uma enorme divisão política no Brasil, como nunca tivemos antes na nossa história.
Aurélio: O cenário era de tensão. Durante anos, Bolsonaro vinha questionando a legitimidade das eleições e dando declarações favoráveis a um golpe de Estado, caso não vencesse as eleições.
Bolsonaro: Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que tá pintado, tá pintado. Eu parei de falar em votos, em eleições há umas três semanas… Cês tão vendo agora que acho que chegaram à conclusão, a gente vai ter que fazer alguma coisa antes.
Aurélio: Dessa forma, quando o ex-presidente foi derrotado nas urnas, ele já havia plantado as sementes de uma revolta antidemocrática que explodiu nos ataques do 8 de janeiro de 2023.
Marcos: Vale ressaltar que as inúmeras alegações de fraude eleitoral feitas por Bolsonaro nunca foram confirmadas. Pelo contrário, segundo um relatório encomendado pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que contou com uma análise de nove organizações internacionais independentes, o sistema eleitoral brasileiro é, abre aspas, ”seguro, confiável, transparente, eficaz, e as urnas eletrônicas são uma fortaleza da democracia”, fecha aspas. E ainda mais, o próprio ex-presidente nunca forneceu evidências que suportassem essas alegações.
Aurélio: Em 8 de janeiro de 2023, uma semana após a posse de Lula, alguns grupos alinhados ao bolsonarismo, insatisfeitos com o resultado da eleição e, claro, influenciados por discursos de contestação ao processo eleitoral, organizaram as manifestações que culminaram na invasão de prédios dos três poderes da república na cidade de Brasília. Trajados de verde e amarelo, os golpistas invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, que é a sede do Executivo, e o Supremo Tribunal Federal, que a gente conhece como STF. Esses edifícios são símbolos da democracia brasileira e abrigam as principais instituições políticas do nosso país.
Marcos: Durante os ataques, os golpistas destruíram janelas, móveis, obras de arte históricas, documentos e equipamentos. Além disso, realizaram pichações, roubaram objetos e tentaram impor sua insatisfação por meio de atos de vandalismo e intimidação. Hoje sabemos que uma parcela das Forças Armadas foi conivente com os atos antidemocráticos e, por conta disso, a devastação causada pelos bolsonaristas foi imensa, principalmente ao acervo histórico e cultural nacional.
Aurélio: No próprio dia desses ataques, centenas de manifestantes foram detidos e investigações subsequentes foram e vêm sendo conduzidas para identificar os organizadores e os financiadores dessas ações.
Marcos: Em março de 2025, Bolsonaro se tornou réu em ação penal sobre a acusação dos crimes: Organização criminosa armada; Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; Golpe de Estad; Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União; Deterioração de patrimônio tombado. E em novembro de 2025, o ex-presidente foi condenado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a 27 anos e 3 meses de cumprimento de pena em regime fechado, tornando Bolsonaro inelegível até 2060. Pelo menos essas são as últimas informações até a gravação deste episódio.
Aurélio: Para ter uma maior noção do significado político dos atos do 8 de janeiro, conversamos com o Leirner, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos. Ele fez uma análise desse crescente cenário antidemocrático desde o ano de 2013 até hoje.
Marcos: Professor Piero, como a nossa democracia chegou ao ponto de termos vivenciado esses atos golpistas no 8 de janeiro de 2023?
Piero: Esse é um ponto que eu acho que talvez divirja um pouco de algumas leituras, porque eu acho que o fenômeno Bolsonaro é secundário em relação ao fenômeno do desajuste institucional que a gente começou a viver no pós-2013. Após junho de 2013, houve uma espécie de janela de oportunidade, uma condição para que certos atores institucionais promovessem uma desorganização desses parâmetros que a gente está entendendo como parâmetros da democracia. Basicamente, esses atores são muitos e estão ramificados pela sociedade como um todo, mas me interessa, sobretudo, quem foram os atores estatais que produziram esse desarranjo, lembrando que eles são atores que têm muito poder. Basicamente, eu acho que esses atores estatais vieram de dois campos, o judiciário de um lado e os militares de outro. Ambos contribuíram de maneira absolutamente problemática para esse desarranjo institucional.
Marcos: As investigações relacionadas à invasão de Brasília, realizadas pelo STF, responsabilizaram cerca de 900 pessoas por participação nos ataques. Os crimes realizados pelos golpistas estão nas categorias de: Associação criminosa; Abolição à violência do Estado Democrático de Direito; e danos ao patrimônio público.
Aurélio: Além de Bolsonaro, outros dois grandes envolvidos na trama golpista chegaram a ser presos. O Tenente-Coronel Mauro Cid, em março de 2024, por coordenar financiadores privados dos ataques e manifestações golpistas. E o General Walter Braga Neto, preso em dezembro de 2024, por dar suporte estratégico aos golpistas, fornecendo estrutura para que eles não fossem interceptados.
Piero: Eu não quero tirar, evidentemente, o caráter golpista do que aconteceu no dia 8 de janeiro de 23, mas eu queria chamar a atenção para um aspecto que eu só vi considerado nas reflexões de um livro chamado “Oito de Janeiro, A Rebelião dos Manés”. Eu acho que eles trabalham um lado, que é um lado que é bastante interessante, do ponto de vista de quem está pensando a questão simbólica do que foi a conquista do Palácio. E do fato desse grupo ter sequestrado todo o potencial antissistêmico e iconoclasta, que é, vamos dizer assim, tradicionalmente, um potencial atribuído àquilo que a gente pode entender como, vamos dizer assim, a potência virtual da massa revolucionária da esquerda. Há muito tempo a gente vê essa ideia da direita sequestrando, primeiro, a ideia de linguagem antissistêmica.
Aurélio: Conforme nos conta Piero, a destruição do acervo nacional possui também um aspecto simbólico de destruição da democracia e da cultura por uma massa que se imagina antissistema.
Marcos: Meses após a triste destruição do acervo nacional em Brasília, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Iphan, junto com instituições parceiras, iniciou o projeto de recuperação das obras danificadas.
Aurélio: A equipe do projeto contou com diversos restauradores profissionais, da Universidade Federal de Pelotas, a UFPel, que hoje é uma das instituições com grande tradição em formar restauradores no nosso país. O projeto durou cerca de 10 meses, sendo que todos os restauros
Em abril deste ano foi anunciada a detecção de possíveis sinais de vida extraterrestre num planeta fora do sistema solar com o telescópio espacial James Webb, mas a descoberta não foi confirmada. Afinal, tem ou não tem vida nesse outro planeta? Que planeta é esse? Como é possível saber alguma coisa sobre um planeta distante?
Este episódio do Oxigênio vai encarar essas questões com a ajuda de dois astrônomos especialistas no assunto: o Luan Ghezzi, da UFRJ, e a Aline Novais, da Universidade de Lund, na Suécia. Vamos saber um pouco mais sobre como é feita a busca por sinais de vida nas atmosferas de exoplanetas.
__________________________________________________________________________________________________
ROTEIRO
Danilo: Você se lembra de quando uma possível detecção de sinais de vida extraterrestre virou notícia de destaque em abril deste ano, 2025? Se não, deixa eu refrescar a sua memória: usando o telescópio espacial James Webb, pesquisadores teriam captado sinais da atmosfera de um exoplaneta que indicariam a presença de um composto químico que aqui na Terra é produzido pela vida, algo que no jargão científico é chamado de bioassinatura.
A notícia bombou no mundo todo. Aqui no Brasil, o caso teve tanta repercussão que a Folha de São Paulo dedicou um editorial só para isso – os jornais costumam comentar política e economia nos editoriais, e raramente dão espaço para assuntos científicos. Nos dois meses seguintes, outros times de pesquisadores publicaram pelo menos quatro estudos analisando os mesmos dados coletados pelo James Webb e concluíram que as possíveis bioassinaturas desaparecem quando outros modelos são usados para interpretar os dados. Sem o mesmo entusiasmo, os jornais noticiaram essas refutações e logo o assunto sumiu da mídia.
Afinal, o que aconteceu de fato? Tem ou não tem vida nesse outro planeta? Aliás, que planeta é esse? Como é possível saber alguma coisa sobre um planeta distante? Eu sou Danilo Albergaria, jornalista, historiador, e atualmente pesquiso justamente a comunicação da astrobiologia, essa área que estuda a origem, a evolução e a possível distribuição da vida no universo. Nesse episódio, com a ajuda de dois astrofísicos, o Luan Ghezzi e a Aline Novais, vou explicar como os astrofísicos fazem as suas descobertas e entender porque a busca por sinais de vida fora da Terra é tão complicada e cheia de incertezas. Esse é o primeiro episódio de uma série que vai tratar de temas relacionados à astrobiologia.
[Vinheta]
Danilo: Eu lembro que li a notícia quentinha, assim que ela saiu no New York Times, perto das dez da noite daquela quarta-feira, dia 16 de abril de 2025. No dia seguinte, acordei e fui checar meu Whatsapp, já imaginando a repercussão. Os grupos de amigos estavam pegando fogo com mensagens entusiasmadas, perguntas, piadas e memes. Os grupos de colegas pesquisadores, astrônomos e comunicadores de ciência, jornalistas de ciência, também tinham um monte de mensagens, mas o tom era diferente. Em vez de entusiasmo, o clima era de preocupação e um certo mau-humor: “de novo DMS no K2-18b fazendo muito barulho”, disse uma cientista. Outra desabafou: “eu tenho coisa melhor pra fazer do que ter que baixar a fervura disso com a imprensa”. Por que o mal-estar geral entre os cientistas? Já chego lá.
Os cientistas eram colegas que eu tinha conhecido na Holanda, no tempo em que trabalhei como pesquisador na Universidade de Leiden. Lá eu pesquisei a comunicação da astrobiologia. Bem no comecinho do projeto – logo que eu cheguei lá, em setembro de 2023 – saiu a notícia de que um possível sinal de vida, um composto chamado sulfeto de dimetila, mais conhecido pela sigla DMS, havia sido detectado num planeta a 124 anos-luz de distância da Terra, o exoplaneta K2-18b. Eu vi a repercussão se desenrolando em tempo real: as primeiras notícias, os primeiros comentários críticos de outros cientistas, a discussão nas redes sociais e blogs. Como eu estava no departamento de astronomia de Leiden, vi também como isso aconteceu por dentro da comunidade científica: os astrônomos com quem conversei na época estavam perplexos com a forma espalhafatosa com que o resultado foi comunicado. O principal era: eles não estavam nem um pouco animados, otimistas mesmo de que se tratava, de verdade, da primeira detecção de vida extraterrestre. Por que isso estava acontecendo?
Vamos começar a entender o porquê sabendo um pouco mais sobre o exoplaneta K2-18b, em que os possíveis sinais de vida teriam sido detectados. Primeiro: um exoplaneta é um planeta que não orbita o Sol, ou seja, é um planeta que está fora do sistema solar (por isso também são chamados de extrassolares). Existem planetas órfãos, que estão vagando sozinhos pelo espaço interestelar, e planetas girando em torno de objetos exóticos, como os pulsares, que são estrelas de nêutrons girando muito rápido, mas quando os astrônomos falam em exoplaneta, quase sempre estão falando sobre um planeta que gira em torno de outra estrela que não Sol.
O Sol é uma estrela, obviamente, mas o contrário da frase geralmente a gente não ouve, mas que é verdade… as estrelas são como se fossem sóis, elas são sóis. As estrelas podem ser maiores, mais quentes e mais brilhantes do que o Sol – muitas das estrelas que vemos no céu noturno são assim. Mas as estrelas também podem ser menores, mais frias e menos brilhantes do que o Sol – as menores são chamadas de anãs vermelhas. Elas brilham tão pouco que não dá para vê-las no céu noturno a olho nu. O K2-18b é um planeta que gira em torno de uma dessas anãs vermelhas, a K2-18, uma estrela que tem menos da metade do tamanho do Sol. Só que o planeta é relativamente grande.
Luan Ghezzi: Ele é um planeta que tem algo entre 8 e 9 vezes a massa da Terra, ou seja, é um planeta bem maior do que a Terra. E ele tem um raio ali aproximado de 2.6 vezes o raio da Terra. Então, com essa massa e com esse raio há uma dúvida se ele seria uma super-Terra, ou se ele seria o que a gente chama de Mini-Netuno, ou seja, super-Terra, são planetas terrestres, mas, porém, maiores do que a Terra. Mini-Netunos são planetas parecidos com o Netuno. Só que menores. Mas com essa junção de massa e raio, a gente consegue calcular a densidade. E aí essa densidade indicaria um valor entre a densidade da Terra e de Netuno. Então tudo indica que esse K2-18b estaria aí nesse regime dos mini-Netunos, que é uma classe de planetas que a gente não tem no sistema solar.
Danilo: Netuno é um gigante gelado e ele tem uma estrutura muito diferente da Terra, uma estrutura que (junto com o fato de estar muito distante do Sol) o torna inabitável, inabitável à vida como a gente a conhece. Mini-Netunos e Super-Terras, de tamanho e massa intermediários entre a Terra e Netuno, não existem no sistema solar, mas são a maioria entre os mais de 6 mil exoplanetas descobertos até agora.
A estrela-mãe do K2-18b é bem mais fria, ou menos quente do que o Sol: enquanto o Sol tem uma temperatura média de 5500 graus Celsius, a temperatura da K2-18 não chega a 3200 graus. Então, se a gente imaginasse que o Sol fosse “frio” assim (frio entre aspas), a temperatura aqui na superfície da Terra seria muito, mas muito abaixo de zero, o que provavelmente tornaria nosso planeta inabitável. Só que o K2-18b gira muito mais perto de sua estrela-mãe. A distância média da Terra para o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, enquanto a distância média que separa o K2-18b e sua estrela é de 24 milhões de quilômetros. Outra medida ajuda a entender melhor como a órbita desse planeta é menor do que a da Terra: a cada 33 dias, ele completa uma volta ao redor da estrela. E comparado com a estrela, o planeta é tão pequeno, tão obscuro, que não pode ser observado diretamente. Nenhum telescópio atual é capaz de fazer imagens desse exoplaneta, assim como acontece com quase todos os exoplanetas descobertos até agora. São muito pequenos e facilmente ofuscados pelas estrelas que orbitam. Como, então, os astrônomos sabem que eles existem? O Luan Ghezzi explica.
Luan Ghezzi: a detecção de exoplanetas é um processo que não é simples, porque os planetas são ofuscados pelas estrelas deles. Então é muito difícil a gente conseguir observar planetas diretamente, você ver o planeta com uma imagem… cerca de um por cento dos mais de seis mil planetas que a gente conhece hoje foram detectados através do método de imageamento direto, que é realmente você apontar o telescópio, e você obtém uma imagem da estrela e do planeta ali, pertinho dela. Todos os outros planetas, ou seja, noventa e nove porcento dos que a gente conhece hoje foram detectados através de métodos indiretos, ou seja, a gente detecta o planeta a partir de alguma influência na estrela ou em alguma propriedade da estrela. Então, por exemplo, falando sobre o método de trânsito, que é com que mais se descobriu planetas até hoje, mais de setenta e cinco dos planetas que a gente conhece. Ele é um método em que o planeta passa na frente da estrela. E aí, quando esse planeta passa na frente da estrela, ele tampa uma parte dela. Então isso faz com que o brilho dela diminua um pouquinho e a gente consegue medir essa variação no brilho da estrela. A gente vai monitorando o brilho dela. E aí, de repente, a gente percebe uma queda e a gente fala. Bom, de repente passou alguma coisa ali na frente. Vamos continuar monitorando essa estrela. E aí, daqui a pouco, depois de um tempo, tem uma nova queda. A diminuição do brilho e a gente vai monitorando. E a gente percebe que isso é um fenômeno periódico. Ou seja, a cada x dias, dez dias, vinte dias ou alguma coisa do tipo, a gente tem aquela mesma diminuição do brilho ali na estrela. Então a gente infere a presença de um planeta ali ao redor dela. E aí, como são o planeta e a estrela um, o planeta passando na frente da estrela, tem uma relação entre os tamanhos. Quanto maior o planeta for, ele vai bloquear mais luz da estrela. Então, a partir disso, a gente consegue medir o raio do planeta. Então esse método do trânsito nã
A inteligência artificial, em seus múltiplos sentidos, tem dominado a agenda pública e até mesmo o direcionamento do capital das grandes empresas de tecnologia. Mas você já parou para pensar na infraestrutura gigantesca que dê conta de sustentar o crescimento acelerado das IAs? O futuro e o presente da inteligência artificial passa pela existência dos datacenters. E agora é mais urgente que nunca a gente discutir esse assunto.
Estamos vendo um movimento se concretizar, que parece mais uma forma de colonialismo digital: com a crescente resistência à construção de datacenters nos países no norte global, empresas e governos parecem estar convencidos a trazer essas infraestruturas imensas com todos os seus impactos negativos ao sul global.
Nesse episódio Yama Chiodi e Damny Laya conversam com pesquisadores, ativistas e atingidos para tentar aprofundar o debate sobre a infraestrutura material das IAs. A gente conversa sobre o que são datacenters e como eles impactam e irão impactar nossas vidas. No segundo episódio, recuperamos movimentos de resistência a sua instalação no Brasil e como nosso país se insere no debate, seguindo a perspectiva de ativistas e de pesquisadores da área que estão buscando uma regulação mais justa para esses grandes empreendimentos.
______________________________________________________________________________________________
ROTEIRO
[ vinheta da série ]
[ Começa bio-unit ]
YAMA: A inteligência artificial, em seus múltiplos sentidos, tem dominado a agenda pública e até mesmo o direcionamento do capital das grandes empresas de tecnologia. Mas você já parou para pensar na infraestrutura gigantesca que dê conta de sustentar o crescimento acelerado das IA?
DAMNY: O futuro e o presente da inteligência artificial passa pela existência dos data centers. E agora é mais urgente que nunca a gente discutir esse assunto. Estamos vendo um movimento se concretizar, que parece mais uma forma de colonialismo digital: com a crescente resistência à construção de datacenters nos países no norte global, empresas e governos parecem estar convencidos a trazer os datacenters com todos os seus impactos negativos ao sul global.
YAMA: Nós conversamos com pesquisadores, ativistas e atingidos e em dois episódios nós vamos tentar aprofundar o debate sobre a infraestrutura material das IAs. No primeiro, a gente conversa sobre o que são datacenters e como eles impactam e irão impactar nossas vidas.
DAMNY: No segundo, recuperamos movimentos de resistência a sua instalação no Brasil e como nosso país se insere no debate, seguindo a perspectiva de ativistas e de pesquisadores da área que estão buscando uma regulação mais justa para esses grandes empreendimentos.
[ tom baixo ]
YAMA: Eu sou o Yama Chiodi, jornalista de ciência e pesquisador do campo das mudanças climáticas. Se você já é ouvinte do oxigênio pode ter me ouvido aqui na série cidade de ferro ou no episódio sobre antropoceno. Ao longo dos últimos meses investiguei os impactos ambientais das inteligências artificiais para um projeto comum entre o LABMEM, o laboratório de mudança tecnológica, energia e meio ambiente, e o oxigênio. Em setembro passado, o Damny se juntou a mim pra gente construir esses episódios juntos. E não por acaso. O Damny publicou em outubro passado um relatório sobre os impactos socioambientais dos data centers no Brasil, intitulado “Não somos quintal de data center”. O link para o relatório completo se encontra disponível na descrição do episódio. Bem-vindo ao Oxigênio, Dam.
DAMNY: Oi Yama. Obrigado pelo convite pra construir junto esses episódios.
YAMA: É um prazer, meu amigo.
DAMNY: Eu também atuo como jornalista de ciência e sou pesquisador de governança da internet já há algum tempo. Estou agora trabalhando como jornalista e pesquisador aqui no LABJOR, mas quando escrevi o relatório eu tava trabalhando como pesquisador-consultor na ONG IDEC, Instituto de Defesa de Consumidores.
YAMA: A gente começa depois da vinheta.
[ Termina Bio Unit]
[ Vinheta Oxigênio ]
[ Começa Documentary]
YAMA: Você já deve ter ouvido na cobertura midiática sobre datacenters a formulação que te diz quantos litros de água cada pergunta ao chatGPT gasta. Mas a gente aqui não gosta muito dessa abordagem. Entre outros motivos, porque ela reduz o problema dos impactos socioambientais das IA a uma questão de consumo individual. E isso é um erro tanto político como factual. Calcular quanta água gasta cada pergunta feita ao ChatGPT tira a responsabilidade das empresas e a transfere aos usuários, escondendo a verdadeira escala do problema. Mesmo que o consumo individual cresça de modo acelerado e explosivo, ele sempre vai ser uma pequena fração do problema. Data centers operam em escala industrial, computando quantidades incríveis de dados para treinar modelos e outros serviços corporativos. Um único empreendimento pode consumir em um dia mais energia do que as cidades que os abrigam consomem ao longo de um mês.
DAMNY: Nos habituamos a imaginar a inteligência artificial como uma “nuvem” etérea, mas, na verdade, ela só existe a partir de data centers monstruosos que consomem quantidades absurdas de recursos naturais. Os impactos sociais e ambientais são severos. Data centers são máquinas de consumo de energia, água e terra, e criam poluição do ar e sonora, num modelo que reforça velhos padrões de racismo ambiental. O desenvolvimento dessas infraestruturas frequentemente acontece à margem das comunidades afetadas, refazendo a cartilha global da injustiça ambiental. Ao seguir suas redes, perceberemos seus impactos em rios, no solo, no ar, em territórios indígenas e no crescente aumento da demanda por minerais críticos e, por consequência, de práticas minerárias profundamente destrutivas.
YAMA: De acordo com a pesquisadora Tamara Kneese, diretora do programa de Clima, Tecnologia e Justiça do instituto de pesquisa Data & Society, com quem conversamos, essa infraestrutura está criando uma nova forma de colonialismo tecnológico. Os danos ambientais são frequentemente direcionados para as comunidades mais vulneráveis, de zonas rurais às periferias dos grandes centros urbanos, que se tornam zonas de sacrifício para o progresso dessa indústria.
DAMNY: Além disso, a crescente insatisfação das comunidades do Norte Global com os data centers tem provocado o efeito colonial de uma terceirização dessas estruturas para o Sul Global. E o Brasil não apenas não é exceção como parece ser um destino preferencial por sua alta oferta de energia limpa. [pausa] E com o aval do governo federal, que acaba de publicar uma medida provisória chamada REDATA, cujo objetivo é atrair data centers ao Brasil com isenção fiscal e pouquíssimas responsabilidades.
[ Termina Documentary]
[tom baixo ]
VOICE OVER: BLOCO 1 – O QUE SÃO DATA CENTERS?
YAMA: Pra entender o que são data centers, a gente precisa antes de tudo de entender que a inteligência artificial não é meramente uma nuvem etérea que só existe virtualmente. Foi assim que a gente começou nossa conversa com a pesquisadora estadunidense Tamara Kneese. Ela é diretora do programa de Clima, Tecnologia e Justiça do instituto de pesquisa Data & Society.
TAMARA: PT – BR [ Eu acho que o problema da nossa relação com a computação é que a maioria parte do tempo a gente não pensa muito sobre a materialidade dos sistemas informacionais e na cadeia de suprimentos que permitem que eles existam. Tudo que a gente faz online não depende só dos nossos aparelhos, ou dos serviços de nuvem que a gente contrata, mas de uma cadeia muito maior. De onde ver o hardware que a gente usa? Que práticas de trabalho são empregadas nessa cadeia? E então, voltando à cadeia de suprimentos, pensar sobre os materiais brutos e os minerais críticos e outras formas de extração, abusos de direitos humanos e trabalhistas que estão diretamente relacionados à produção dos materiais que precisamos pra computação em geral. ]
So I think, you know, the problem with our relationship to computing is that, most of the time, we don’t really think that much about the materiality of the computing system and the larger supply chain. You know, thinking about the fact that, of course, everything we do relies not just on our own device, or the particular cloud services that we subscribe to, but also on a much larger supply chain. So, where does the hardware come from, that we are using, and what kind of labor practices are going into that? And then be, you know, further back in the supply chain, thinking about raw materials and critical minerals and other forms of extraction, and human rights abuses and labor abuses that also go into the production of the raw materials that we need for computing in general.
DAMNY: A Tamara já escreveu bastante sobre como a metáfora da nuvem nos engana, porque ela dificulta que a gente enxergue a cadeia completa que envolve o processamento de tantos dados. E isso se tornou uma questão muito maior com a criação dos chatbots e das IAs generativas.
YAMA: Se a pandemia já representou uma virada no aumento da necessidade de processamento de dados, quando passamos a ir à escola e ao trabalho pelo computador, o boom das IA generativas criou um aumento sem precedentes da necessidade de expandir essas cadeias.
DAMNY: E na ponta da infraestrutura de todas as nuvens estão os data centers. Mais do que gerar enormes impactos sócio-ambientais, eles são as melhores formas de enxergar que o ritmo atual da expansão das IAs não poderá continuar por muito tempo, por limitações físicas. Não há terra nem recursos naturais que deem conta disso.
YAMA: A gente conversou com a Cynthia Picolo, que é Diretora Executiva do LAPIN, o Laboratório de Políticas Públicas e Internet. O LAPIN tem atuado muito contra a violação de direitos na implementação de data centers no Brasil e a gente ainda vai conversar mais sobre isso.
DAMNY: Uma das coisas que a Cynthia nos ajudou a entender é como não podemos dissociar as IAs dos data centers.
CYNTHIA: Existe uma materialidade por trás. Existe uma infraestrutura físic
No episódio de hoje, você escuta uma conversa um pouco diferente: um bate-papo com as pesquisadoras Germana Barata e Sabine Righetti, ambas do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor). Elas estiveram na COP30 e conversaram com Mayra Trinca sobre a experiência de cobrir um evento ambiental tão relevante e sobre quais foram os pontos fortes da presença da imprensa independente.
__________________________________________________________________________________
TRANSCRIÇÃO
[música]
Mayra: Olá, eu sou a Mayra, você já deve me conhecer aqui do Oxigênio. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. E eu trouxe aqui duas pesquisadoras do LabJor pra contar um pouquinho da experiência delas na COP30, que rolou agora em novembro.
Então vai ser um episódio um pouco mais bate-papo, mas eu prometo que vai ficar legal. Vou pedir pra elas se apresentarem e a gente já começa a conversar. Então eu estou com a Germana Barata e a Sabine Righetti, que são pesquisadoras aqui do Labjor.
Germana, se apresenta pra gente, por favor.
Germana: Olá, pessoal, eu sou a Germana. Obrigada, Maíra, pelo convite pra estar aqui com vocês no Oxigênio. Eu sou pesquisadora do LabJor, do aula também por aqui, e tenho coordenado aí uma rede de comunicação sobre o oceano, que é a Ressou Oceano, que é o motivo da minha ida pra COP30.Então a gente vai ter a oportunidade de contar um pouquinho do que foi essa aventura na COP30.
Mayra: Agora, Sabine, se apresenta pra gente, por favor.
Sabine: Oi, pessoal, um prazer estar aqui. Sou pesquisadora aqui no LabJor, ouvinte do Oxigênio, e trabalho entendendo como que o conhecimento científico é produzido e circula na sociedade, sobretudo pela imprensa. Então esse foi um assunto central na COP lá em Belém.
[vinheta]
Mayra: Eu trouxe a Sabine e a Germana, porque, bom, são pesquisadoras do Labjor que foram pra COP, mas pra gente conhecer um pouquinho o porquê que elas foram até lá a partir das linhas de interesse e de pesquisa. Então, meninas, contem pra gente por que vocês resolveram ir até a COP e o que isso está relacionado com as linhas de trabalho de vocês.
Germana: Bom, acho que uma COP no Brasil, no coração da Amazônia, é imperdível por si.
Sabine: Não tinha como não ir.
Germana: Não, não tinha. E como eu atuo nessa área da comunicação sobre o oceano pra sociedade, esse é um tema que a comunidade que luta pela saúde do oceano tem trabalhado com muito afinco para que o oceano tenha mais visibilidade nos debates sobre mudanças climáticas. Então esse foi o motivo que eu percebi que era impossível não participar dessa grande reunião. Enfim, também numa terra onde eu tenho família, Belém do Pará é a terra do meu pai, e uma terra muito especial, uma cidade muito especial, eu acho que por tantos motivos era imperdível realmente essa experiência na COP.
Sabine: Voltamos todas apaixonadas por Belém. O pessoal extremamente acolhedor, a cidade incrível, foi maravilhoso. Eu trabalho tentando compreender como a ciência, conhecimento científico, as evidências circulam na sociedade, na sociedade organizada.
Então entre jornalistas, entre tomadores de decisão, entre grupos específicos. E no meu entendimento a COP é um espaço, é um grande laboratório sobre isso, porque a ciência já mostrou o que está acontecendo, a ciência já apontou, aliás faz tempo que os cientistas alertam, e que o consenso científico é muito claro sobre as mudanças climáticas. Então o que falta agora é essa informação chegar nos grupos organizados, nos tomadores de decisão, nas políticas públicas, e quem pode realmente bater o martelo e alterar o curso das mudanças climáticas.
Claro que a gente precisa de mais ciência, mas a gente já sabe o que está acontecendo. Então me interessou muito circular e entender como que a ciência estava ou não. Porque muitos ambientes, as negociações, os debates, eles traziam mais desinformação ou falsa controvérsia do que a ciência em si.
Germana: E é a primeira vez que a COP abrigou um pavilhão de cientistas. Então acho que esse é um marco, tanto para cientistas quanto outros pavilhões, outras presenças que foram inéditas ou muito fortes na COP, como dos povos indígenas ou comunidades tradicionais, mas também de cientistas, que antes, claro, os cientistas sempre foram para as COPs, mas iam como individualmente, vamos dizer assim.
Sabine: Para a gente entender, quem não tem familiaridade com COP, os pavilhões, e isso eu aprendi lá, porque eu nunca tinha participado de uma COP, os pavilhões são como se fossem grandes estandes que têm uma programação própria e acontecem debates e manifestações, eventos diversos, culturais, enfim. Então a zona azul, que a gente chama, que é a área central da COP, onde tem as discussões, as tomadas de decisão, tem um conjunto de pavilhões. Pavilhões de países, pavilhões de temas. Oceanos também foi a primeira vez, né?
Germana: Não foi a primeira vez, foi o terceiro ano, a terceira COP, mas estava enorme, sim, para marcar a presença.
Mayra: O Oceano foi a primeira vez que estava na Blue Zone ou antes ele já estava na zona azul também?
Germana: Ele já estava na Blue Zone, já estava na zona azul, é a terceira vez que o Oceano está presente como pavilhão, mas é a primeira vez que o Oceano realmente ocupou, transbordou, digamos assim, os debates, e os debates, incluindo o Oceano, acabaram ocupando, inclusive, dois dias oficiais de COP, que foram os dias 17 e 18, na programação oficial das reuniões, dos debates. Então é a primeira vez que eu acho que ganha um pouco mais de protagonismo, digamos assim.
Mayra: E vocês participaram de quais pavilhões? Porque a gente tem o pavilhão dos Oceanos, tinha um pavilhão das universidades, que inclusive foi organizado por pesquisadores da Unicamp, não necessariamente aqui do Labjor, mas da Unicamp como um todo, e eu queria saber por quais pavilhões vocês passaram. Germana, com certeza, passou pelo do Oceano, mas além do Oceano, quais outros? Vocês passaram por esse das universidades? Como é que foi?
Sabine: Eu apresentei um trabalho nesse contexto dos pavilhões, como espaço de discussão e de apresentações, eu apresentei um resultado de um trabalho que foi um levantamento de dados sobre ponto de não retorno da Amazônia com ajuda de inteligência artificial. Eu tenho trabalhado com isso, com leitura sistemática de artigos científicos com ajuda de inteligência artificial e tenho refletido como a gente consegue transformar isso numa informação palatável, por exemplo, para um tomador de decisão que não vai ler um artigo, muito menos um conjunto de artigos, e a gente está falando de milhares. Eu apresentei no pavilhão que a gente chamava de pavilhão das universidades que tinha um nome em inglês que era basicamente a Educação Superior para a Justiça Climática.
Ele foi organizado institucionalmente pela Unicamp e pela Universidade de Monterrey, no México, e contou com falas e debates de vários cientistas do mundo todo, mas esse não era o pavilhão da ciência. Tinha o pavilhão da ciência e tinha os pavilhões dos países, os pavilhões temáticos, caso de oceanos, que a gente comentou. Então, assim, eu circulei em todos, basicamente.
Me chamou muita atenção o dos oceanos, que de fato estava com uma presença importante, e o pavilhão da China, que era o maior dos pavilhões, a maior delegação, os melhores brindes. Era impressionante a presença da China e as ausências. Os Estados Unidos, por exemplo, não estava, não tinha o pavilhão dos Estados Unidos.
Então, as presenças e as ausências também chamam a atenção.
Mayra: Tinha o pavilhão do Brasil?
Sabine: Tinha.
Germana: Tinha um pavilhão maravilhoso.
Sabine: Maravilhoso e com ótimo café.
Germana: É, exatamente.
Sabine: Fui lá várias vezes tomar um café.
Germana: Inclusive vendendo a ideia do Brasil como um país com produtos de qualidade,né, que é uma oportunidade de você divulgar o seu país para vários participantes de outros países do mundo. E acho que é importante a gente falar que isso, que a Sabine está falando dos pavilhões, era zona azul, ou seja, para pessoas credenciadas. Então, a programação oficial da COP, onde as grandes decisões são tomadas, são ali.
Mas tinha a zona verde, que também tem pavilhões, também tinha pavilhão de alguns países, mas, sobretudo, Brasil, do Estado do Pará, de universidades etc., que estava belíssimo, aberta ao público, e também com uma programação muito rica para pessoas que não necessariamente estão engajadas com a questão das mudanças…
Sabine: Muito terceiro setor.
Germana: Exatamente.
Sabine: Movimentos sociais.
Germana: E fora a cidade inteira que estava, acho que não tem um belenense que vai dizer o que aconteceu aqui essas semanas, porque realmente os ônibus, os táxis, o Teatro da Paz, que é o Teatro Central de Belém, todos os lugares ligados a eventos, mercados, as docas…
Sabine: Museus com programação.
Germana: Todo mundo muito focado com programação, até a grande sorveteria maravilhosa Cairu, que está pensando inclusive de expandir aqui para São Paulo, espero que em breve, tinha um sabor lá, a COP30. Muito legal, porque realmente a coisa chegou no nível para todos.
Mayra: O que era o sabor COP30? Fiquei curiosa.
Sabine: O de chocolate era pistache.
Germana: Acho que era cupuaçu, pistache, mais alguma coisa.
Sabine: Por causa do verde. É que tinha bombom COP30 e tinha o sorvete COP30, que tinha pistache, mas acho que tinha cupuaçu também. Era muito bom.
Germana: Sim, tinha cupuaçu. Muito bom!
Mayra: Fiquei tentada com esse sorvete agora. Só na próxima COP do Brasil.
[música]
Mayra: E para além de trabalho, experiências pessoais, o que mais chamou a atenção de vocês? O que foi mais legal de participar da COP?
Germana: Eu já conheci a Belém, já fui algumas vezes para lá, mas fazia muitos anos que eu não ia. E é incrível ver o quanto a cidade foi transformada em relação à COP. Então, a COP deixa um legado para os paraenses.
E assim, como a Sabine tinha dito no começo, é uma população que recebeu todos de braços abertos
Você já parou pra pensar quem traduz os livros que você lê e como esse trabalho molda a forma como entende o mundo? Neste episódio, Lívia Mendes e Lidia Torres irão nos conduzir em uma viagem no tempo para entendermos como os textos gregos e latinos chegam até nós. Vamos descobrir por que traduzir é sempre também interpretar, criar e disputar sentidos.
Conversamos com Andrea Kouklanakis, professora permanente na Hunter College, Nova York, EUA, e Guilherme Gontijo Flores, professor da Universidade Federal do Paraná. Eles compartilharam suas trajetórias no estudo de línguas antigas, seus desafios e descobertas com o mundo da tradução e as questões políticas, históricas e estéticas que a prática e as teorias da tradução abarcam.
Esse episódio faz parte do trabalho de divulgação científica que a Lívia Mendes desenvolve no Centro de Estudos Clássicos e Centro de Teoria da Filologia, vinculados ao Instituto de Estudos da Linguagem e ao Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, financiado pelo projeto Mídia Ciência da FAPESP, a quem agradecemos pelo financiamento.
O roteiro foi escrito por Lívia Mendes e a revisão é de Lidia Torres e Mayra Trinca. A edição é de Daniel Rangel.
Se você gosta de literatura, história, tradução ou quer entender novas formas de aproximar o passado do presente, esse episódio é pra você.
__________________________________________________________________
ROTEIRO
[música, bg]
Lívia: Quem traduziu o livro que você está lendo?
Lívia: E se você tivesse que aprender todas as línguas dos clássicos que deseja ler? Aqueles livros escritos em russo, alemão ou qualquer outra língua diferente da sua?
Lívia: E aqueles livros das literaturas que foram escritas em línguas que chamamos antigas, como o latim e o grego?
Lidia: A verdade é que, na maioria das vezes, a gente não pensa muito sobre essas questões. Mas, no Brasil, boa parte dos livros que lemos, tanto literários quanto teóricos, não chegaria até a gente se não fossem os tradutores.
Lidia: Essas obras, que fazem parte de todo um legado social, filosófico e cultural da nossa sociedade, só chegaram até nós por causa do trabalho cuidadoso de pesquisadores e tradutores dessas línguas, que estão tão distantes, mas ao mesmo tempo, tão próximas de nós.
[música de transição]
Lívia: Eu sou a Lívia Mendes.
Lidia: E eu sou a Lidia Torres.
Lívia: Você já conhece a gente aqui do Oxigênio e no episódio de hoje vamos explorar como traduzimos, interpretamos e recebemos textos da Antiguidade greco-romana.
Lidia: E, também vamos pensar por que essas obras ainda hoje mobilizam debates políticos, culturais e estéticos.
Lívia: Vem com a gente explorar o mundo da antiguidade greco-romana que segue tão presente na atualidade, especialmente por meio da tradução dos seus textos.
[vinheta O2]
Andrea [1:05-2:12]: Então, meu nome é Andrea Kouklanakis e, eu sou brasileira, nasci no Brasil e morei lá até 21 anos quando eu emigrei para cá.
Lívia: O “cá” da Andrea é nos Estados Unidos, país que ela se mudou ainda em 1980, então faz um tempo que ela mora fora do Brasil. Mas mesmo antes de se mudar, ela já tinha uma experiência com o inglês.
Andrea Kouklanakis: Quando eu vim pra cá, eu não tinha terminado faculdade ainda, eu tinha feito um ano e meio, quase dois anos na PUC de São Paulo. Ah, e mas chegou uma hora que não deu mais para arcar com a responsabilidade financeira de matrícula da PUC, de mensalidades, então eu passei um tempo trabalhando só, dei aulas de inglês numa dessas escolas assim de business, inglês pra business people e que foi até legal, porque eu era novinha, acho que eu tinha 18, 19 anos e é interessante que todo mundo era mais velho que eu, né? Os homens de negócios, as mulheres de negócio lá, mas foi uma experiência legal e que também, apesar de eu não poder estar na faculdade daquela época, é uma experiência que condiz muito com o meu trabalho com línguas desde pequena.
Lívia: Essa que você ouviu é a nossa primeira entrevistada no episódio de hoje, a professora Andrea Kouklanakis. Como ela falou ali na apresentação, ela se mudou ainda jovem pros Estados Unidos.
Lidia: E, como faz muito tempo que ela se comunica somente em inglês, em alguns momentos ela acaba esquecendo as palavras em português e substitui por uma palavra do inglês. Então, a conversa com a Andrea já é um início pra nossa experimentação linguística neste episódio.
Andrea Kouklanakis: Eu sou professora associada da Hunter College, que faz parte da cidade universitária de Nova York, City University of New York. E eles têm vários campus e a minha home college é aqui na Hunter College, em Manhattan. Eh, eu sou agora professora permanente aqui.
Lívia: A professora Andrea, que conversou com a gente por vídeo chamada lá de Nova Iorque, contou que já era interessada por línguas desde pequena. A mãe dela trabalhava na casa de uma professora de línguas, com quem ela fez as primeiras aulas. E ela aprendeu também algumas palavras da língua materna do seu pai, que é grego e mais tarde, estudou francês e russo na escola.
Lidia: Mas, além de todas essas línguas, hoje ela trabalha com Latim e Grego.Como será que essas línguas antigas entraram na vida da Andrea?
Andrea Kouklanakis: Então, quando eu comecei aqui na Hunter College, eu comecei a fazer latim porque, bom, quando você tem uma língua natal sua, você é isenta do requerimento de línguas, que todo mundo tem que ter um requerimento de língua estrangeira na faculdade aqui. Então, quando eu comecei aqui, eu fiquei sabendo, que eu não precisava da língua, porque eu tinha o português. Mas, eu falei: “É, mas eu peguei pensando a língua é o que eu quero, né?” Então, foi super assim por acaso, que eu tava olhando no catálogo de cursos oferecidos. Aí eu pensei: “Ah, Latim, OK. Why not?. Por que não, né? Uma língua antiga, OK.
Lívia: A professora Andrea, relembrando essa escolha por cursar as disciplinas de Latim, quando chegou na Hunter College, percebeu que ela gostou bastante das aulas por um motivo afetivo e familiar com a maneira com que ela tinha aprendido a língua portuguesa aqui no Brasil, que era diferente da forma como seus colegas estadunidenses tinham aprendido o inglês, sem muita conexão com a gramática.
Lidia: Ela gostava de estudar sintaxe, orações subordinadas e todas essas regras gramaticais, que são muito importantes pra quem quer estudar uma língua antiga e mais pra frente a gente vai entender bem o porquê.
[som de ícone] Lívia: sintaxe, é a parte da gramática que estuda como as palavras se organizam dentro das frases pra formar sentidos. Ela explica quem é o sujeito, o que é o verbo, quais termos completam ou modificam outros, e assim por diante.
[som de ícone]: Lívia: Oração subordinada é uma frase que depende de outra para ter sentido completo. Ela não “anda sozinha”: precisa da oração principal pra formar o significado total.
[música de transição]
Lidia: E, agora, você deve estar se perguntando, será que todo mundo que resolve estudar língua antiga faz escolhas parecidas com a da professora Andrea?
Lidia: É isso que a gente perguntou pro nosso próximo entrevistado.
Guilherme Gontijo: Eu sou atualmente professor de latim na UFPR, no Paraná, moro em Curitiba. Mas, eu fiz a minha graduação em letras português na UFES, na Federal do Espírito Santo. E lá quando eu tive que fazer as disciplinas obrigatórias de latim, eu tinha que escolher uma língua complementar, eu lembro que eu peguei italiano porque eu estudava francês fora da universidade e eu tinha que estudar o latim obrigatório. Estudei latim com Raimundo Carvalho.
Lívia: Bom, parece que o Guilherme teve uma trajetória parecida com a da Andrea e gostar de estudar línguas é uma das premissas pra se tornar um estudioso de latim e de grego.
Lidia: O professor Raimundo de Carvalho, que o Guilherme citou, foi professor de Latim da Federal do Espírito Santo. Desde a década de 80 ele escreve poesias e é um importante estudioso da língua latina. Ele quem traduziu a obra Bucólicas, do Vírgílio, um importante poeta romano, o autor da Eneida, que talvez você já deva ter ouvido falar. O professor Raimundo se aposentou recentemente, mas segue trabalhando na tradução de Metamorfoses, de outro poeta romano, o Ovídio.
Lívia: O Guilherme contou o privilégio que foi ter tido a oportunidade de ser orientado de perto pelo professor Raimundo.
Guilherme Gontijo: Eu lembro que eu era um aluno bastante correto, assim, eu achava muito interessante aprender latim, mas eu estudei latim pensando que ele teria algum uso linguístico pras pessoas que estudam literatura brasileira. E quando ele levou Catulo pra traduzir, eu lembro de ficar enlouquecido, assim, foi incrível e foi a primeira vez na minha vida que eu percebi que eu poderia traduzir um texto de poema como um poema. E isso foi insistivo pra mim, eu não tinha lido teoria nenhuma sobre tradução.
Lívia: Um episódio sobre literatura antiga traz esses nomes diferentes, e a gente vai comentando e explicando. O Catulo, que o Guilherme citou, foi um poeta romano do século I a.C.. Ele é conhecido por escrever odes, que são poemas líricos que expressam admiração, elogio ou reflexão sobre alguém, algo ou uma ideia. A obra do Catulo é marcada pelos poemas que ele dedicou a Lésbia, figura central de muitos dos seus versos.
Guilherme Gontijo: Eu fiz as duas disciplinas obrigatórias de latim, que é toda a minha formação oficial de latim, acaba aí. E passei a frequentar a casa do Raimundo Carvalho semanalmente, às vezes duas vezes por semana, passava a tarde inteira tendo aula de latim com ele, lendo poetas romanos ou prosa romana e estudava em casa e ele tirava minhas dúvidas. Então, graças à generosidade do Raimundo, eu me tornei latinista e eu não tinha ideia que eu, ainda por cima, teria ali um mestre, porque ele é poeta, é tradutor de poesia.
Lidia: Essa conexão com a língua latina fez o Guilherme nunca mais abandonar a tradução. Ele disse que era uma forma natural de conseguir conciliar o seu interesse intelectual acadêmico e o lado criativo, já que desde o início da
A governança da internet, da maneira como é feita hoje, envolve diversos setores e promove um modelo focado na distribuição e acesso por todo o país. Mas mudanças e propostas recentes podem mudar esse cenário, concentrando a gestão da internet em poucas grandes empresas.
Neste episódio, apresentado por Damny Laya e Thais Lassali, produzido também por Mayra Trinca, te contamos o que está por trás da queda da Norma 4 da Anatel, que separa o que é telecomunicações do serviço de internet no Brasil. Para isso, falamos com representantes de associações de provedores de internet, membros do Comitê Gestor da Internet no Brasil e da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel.
_____________________________
ROTEIRO
[música de introdução] – Chicken Steak
THAIS: Hoje a gente vai falar sobre internet. Mas não sobre o vício que as redes sociais causam ou sobre como conteúdos cada vez mais extremistas e violentos têm vindo à tona.
DAMNY: O que não significa que o assunto seja menos importante… ou menos espinhoso.
THAIS: A gente vai falar sobre como o acesso de algumas pessoas a internet pode ser abalado com algumas mudanças que estão por vir. Mas, talvez até mais importante, o episódio de hoje é sobre quem toma as decisões sobre o funcionamento da internet no Brasil.
DAMNY: Eu sou Damny Laya, bolsista Mídia Ciencia do Nucleo de desenvolvimento da Criatividade que abriga o Labjor.
THAIS: E eu sou Thalis Lassali, bolsista Mídia Ciência do Geict, o grupo de estudos interdisciplinares em ciência e tecnologia do Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Unicamp.
[VINHETA]
DAMNY: Pra começar essa conversa, é importante ter em mente algumas questões técnicas. A gente vai tentar ser breve e didático aqui, mas presta atenção porque vai ser importante.
THAIS: A internet funciona dependendo basicamente de três coisas: a camada de infraestrutura básica, as conexões entre diferentes pontos e os conteúdos transmitidos por essas conexões.
[música] – Slider
DAMNY: A infraestrutura são os cabos e os sistemas de armazenamento de informação, como os cabos submarinos e os data centers, por exemplo. A conexão entre os pontos é a parte lógica do funcionamento, que envolve a identificação na rede e as maneiras de ligar os IPs, os endereços de rede, entre si.
THAIS: E a parte de conteúdo é a cobertura de tudo isso, a parte que a gente realmente vê e interage. E, vamos ser sinceros aqui, a parte que mais recebe nossa atenção. Eu não sei você, mas eu mal penso em todo o quebra-cabeça necessário que permite que eu consiga me conectar a rede pra ouvir um episódio de podcast, por exemplo.
DAMNY: Só que as camadas de baixo são essenciais pra esse funcionamento. A gente não conseguiria fazer esse podcast chegar até você se não fosse a conexão que existe pra distribuir o episódio nos agregadores e fazer ele chegar no seu fone.
THAIS: E não adianta a gente tentar distribuir esse episódio se não tem cabo que leve as informações de um lugar para o outro. Nas grandes cidades, quem costuma fazer o trabalho de instalação desses cabos são as empresas de telecomunicação.
DAMNY: Essas empresas são aquelas que nasceram com a telefonia, ganharam corpo com a rede celular e aí foram se adaptando e incluindo no seu serviço a oferta de internet.
[encerra música]
BASILIO: E existe uma diferença muito importante, que é assim, nas cidades mais grandes, cidades de mais de 500 mil habitantes, quase todas elas são dominadas pelas grandes operadoras, 80% dos acessos são feitos pela Vivo, pela Claro, pela TIM, por empresas desse porte.
THAIS: Esse é o Basílio Perez. Ele é vice-presidente da Abrint, a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações e presidente da Federação de Associações e Câmaras de Provedores de Internet da América Latina e do Caribe.
BASILIO: Mas, quando você vai descendo em cidades menores, em cidades abaixo, já na faixa de 200 mil habitantes, já está meio a meio, metade pequenos provedores, metade grandes operadores. Quando você vai descendo em cidades menores, chegando em cidades de 30 mil habitantes, 90% do acesso é da pequena operadora.
DAMNY: O que o Basílio tá dizendo é que a internet do Brasil é organizada de diferentes formas dependendo da região. Nas cidades maiores – em geral mais ricas e com mais infraestrutura – quem predomina são as grandes operadoras.
RAFAEL: E muitas vezes elas não têm interesse de levar esse cabo até a cidade do interior. Mas tem um cara que quer prover internet lá. Então ele fala, ei, manda um cabo aqui, eu pago, que depois eu faço o cabeamento aqui da região. Chega o cabo da telecom, ele compra essa conexão, ele compra uns IPs. E monta um negócio vendendo essa conexão.
THAIS: Esse agora é o Rafael Evangelista, ele é pesquisador aqui no Labjor e conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI, representando o setor técnico-científico.
DAMNY: CGI. Guarda esse nome que a gente ainda vai voltar nele.
RAFAEL: Mas você tem um certo arranjo que permitiu pequenos empresários desempenharem um papel, de fato, empreendedor. Porque ele é, de fato, de risco. Ele vai lá e compra, ele banca que ele vai ter um público consumidor, ele conhece o público consumidor como ninguém. São os caras que têm 40, 50 clientes. Levando, fazendo essa intermediária. E ajudando uma capilaridade da internet, que se dependesse da Claro, da Vivo, da Tim ou da Oi, não ia ter rolado.
DAMNY: Tá, você pode estar se perguntando porque isso é importante.
THAIS: É que esse cenário pode estar mudando. A Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, derrubou uma norma, a Norma 4.
DAMNY: Ela basicamente separava o oferecimento de serviços de telefonia do oferecimento da internet. Uma das diferenças estabelecidas pela norma é a distribuição de impostos, que muda um pouco de um serviço pra outro.
THAIS: O imposto de telefonia é um pouco maior do que o imposto sobre a internet. A queda dessa norma e a reforma tributária que foi aprovada vão mudar isso e, assim que entrarem em vigor – o que deve acontecer entre 2027 e 2030 – passa a ser tudo a mesma coisa.
DAMNY: Ok, mas qual o problema disso? É que, como a gente começou falando aqui, as empresas menores, que atuam em cidades pequenas, com menos clientes e com pacotes mais baratos, e que no geral oferecem só o serviço de internet, tem uma margem de lucro bem menor do que as grandes empresas.
THAIS: Na pandemia, com uma galera trabalhando mais em casa, a procura por pacotes de internet domiciliares até que cresceu bastante, coisa de 50% a mais!
DAMNY: Mas a pandemia acabou e o mercado esfriou.
[começa música] – Roadside Bunkhouse
PARAJO: aí veio o grande problema, aí começou uma briga de preços. A competição estava muito acirrada, aí virou rouba-monte. Baixo o preço aqui, pego uma área com um cliente, eu baixo mais o meu preço aqui, eu tomo ela de volta. E aí começou a ter uma baita confusão no mercado.
[encerra música]
DAMNY: Você ouviu o Eduardo Parajo, que é coordenador do Comitê de provedores de Internet da Abranet, a Associação Brasileira de Internet.
PARAJO: Mas é o seguinte, primeiro, não dá para a gente dizer que tudo é a mesma coisa, porque não é, de fato não é.
THAIS: O Eduardo tava se referindo a diferença entre Telecomunicação e Internet, que a gente começou a explicar antes. É importante a gente entender como cada coisa funciona pra conseguir pegar as consequências sutis mas muito relevantes da queda da tal da norma 4 da Anatel.
DAMNY: Pra entender melhor, vale a gente te contar um pouco sobre como ela surgiu.
MOZART: A Norma 4 foi editada em 1995. No momento que nem a Anatel tinha sido criada ainda. A Lei Geral de Telecomunicações, que abriu espaço para a privatização do sistema Telebrás, das empresas de telecomunicações do Brasil, é de 1997. E essa lei também criou a Anatel em 1997. Então, o Ministério das Comunicações, na época, publicou a Norma 4 e definiu algumas diretrizes básicas e iniciais de uma internet que estava só começando, estava nascendo no Brasil, e deu algumas garantias que eram importantes na época.
DAMNY: Esse é o Mozart Tenorio, assessor da presidência da Anatel e membro suplente no CGI, na vaga destinada à Anatel. Ele vai seguir contando pra gente sobre a história da internet no Brasil e a importância da Norma 4.
MOZART: Dois anos e meio depois, em 1997, a Lei Geral de Telecomunicações chegou, ela recepcionou a Norma 4. Basicamente, o que tem escrito na Norma 4 está repetido no artigo 61 da Lei Geral de Telecomunicações, que são as salvaguardas, as garantias de separação entre o que é internet e o que é telecomunicações no sentido jurídico brasileiro.
THAIS: O Mozart tá chamando atenção para o fato de que, no Brasil, telecomunicações e internet são serviços diferentes não apenas do ponto de vista dos impostos. Na prática, as duas se desenvolveram de maneira separada. Quando você está usando a telecomunicação, o que está acontecendo por trás do seu mecanismo de acesso é sempre um acesso de ponto a ponto.
DAMNY: Suponha que você queira conversar com um parente que está na mesma cidade que você, você liga para ele e as linhas telefônicas realizam uma conexão entre o seu telefone e o do seu parente. Agora suponha que você quer falar com um amigo que está em outro país. As linhas telefônicas vão realizar uma outra ligação entre o seu telefone e o do seu amigo. Esse é o funcionamento típico das telecomunicações. Com a internet, a coisa muda de figura. Escuta o Basílio de novo.
BASILIO: A internet é uma rede já completamente conectada, o tempo todo conectada. Então, ela precisa das telecomunicações para que o cliente chegue até a internet. Mas, quando chega na internet, os protocolos são outros.
THAIS: Com a internet, as coisas ficam um pouco mais complexas. Pensa, por exemplo, nas ligações de grupo que a gente consegue fazer pelo aplicativo de mensagens. Isso não seria possível no modelo clássico de ponto a ponto das telecomunicações. Porque você tem mais de 2 pontos conectados ao mesmo tempo.
DAMNY: Isso acontece pr
Você já se perguntou como novos medicamentos são desenvolvidos? Neste episódio, vamos apresentar uma das abordagens científicas para desenvolver novos tratamentos para doenças humanas: a descoberta de fármacos baseada em alvos biológicos. Você vai conhecer como a ciência une o trabalho de diferentes áreas do conhecimento para encontrar moléculas que podem se tornar medicamentos, tanto a partir de experimentos de bancada, nos laboratórios, quanto com o uso de ferramentas computacionais.
Você vai ouvir entrevistas com Katlin Massirer, farmacêutica e pesquisadora que coordena o Centro de Química Medicinal (CQMED) da Unicamp e com Karina Machado, professora na Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e coordenadora do Laboratório de Biologia Computacional (Combi-Lab). Elas vão explicar como é realizado o complexo trabalho que envolve equipes multidisciplinares para identificar e produzir proteínas-alvo em laboratório, testar milhares de moléculas capazes de modular a função dessas proteínas e mostrar como a ciência da computação pode acelerar essas etapas.
O episódio foi produzido por Lívia Mendes e Daniel Rangel e faz parte do trabalho de divulgação científica que o Daniel Rangel desenvolve no CQMED da Unicamp financiado pelo projeto Mídia Ciência da FAPESP.
____________________________________________________________________________________________________
ROTEIRO
[música – BG]
Lívia: Capivasertibe. Você provavelmente nunca ouviu falar nesse nome, mas ele nomeia algo que tem uma importância muito relevante na saúde da nossa população, principalmente na saúde das mulheres.
Lidia: Agora, se a gente falar “Outubro Rosa”, você deve associar o nome à campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, que aliás está acontecendo no mês que esse podcast tá sendo gravado.
Lívia: Isso mesmo. O “Outubro Rosa” é um movimento internacional de conscientização no controle do câncer de mama, criado no início da década de 1990, com a primeira Corrida pela Cura, em Nova Iorque. No Brasil é realizado desde 2002, e foi instituído por lei federal em 2018.
Lidia: Mas, você deve estar se perguntando, qual a relação do Capivasertibe com o Outubro Rosa?
Lidia: Então, o capivasertibe é um medicamento usado pra tratar certos tipos de câncer de mama avançado. Ele bloqueia uma proteína chamada AKT, que atua de forma desregulada em células cancerígenas, inibindo o crescimento do tumor, dando assim uma maior expectativa de vida pros pacientes.
Lívia: Mas, porque a gente escolheu falar exatamente do tratamento do câncer de mama com capivasertibe nesse episódio?
Lidia: Porque hoje a gente vai te contar uma abordagem da ciência pra desenvolver novos medicamentos, e o capivasertibe é um dos exemplos de medicamento disponível nas farmácias desenvolvido a partir dessa abordagem.
Lívia: Essa abordagem é a descoberta de novos fármacos baseada em alvos biológicos e já já você vai entender isso.
[música de transição]
Lidia: Todo mundo já precisou de um medicamento em algum momento da vida. Desde um tratamento pra uma dor leve, causada por algum acidente doméstico, ou um para aliviar um mal-estar e até pras doenças mais graves, como os diferentes tipos de cânceres.
Lívia: Mas, provavelmente você nunca parou pra pensar como novos medicamentos são descobertos. E é exatamente isso que a gente vai te contar nesse episódio.
Lidia: Você vai conhecer como a ciência une o trabalho de diferentes áreas do conhecimento pra encontrar moléculas que podem se tornar fármacos. Tanto a partir de experimentos de bancadas, nos laboratórios, quanto a partir de ferramentas da computação.
Lívia: Eu sou a Lívia Mendes e esse é o episódio “A Ciência na Busca por Novos Medicamentos”.
Lidia: Eu sou a Lidia Torres. Vem com a gente embarcar no mundo invisível dos genes, das proteínas e das pequenas moléculas, pra entender como os cientistas desenvolvem os medicamentos que a gente utiliza pra tratar as nossas enfermidades.
Lívia: Hoje a gente vai falar das fases iniciais do desenvolvimento de novos fármacos, mais especificamente das estratégias de descoberta baseadas em alvos biológicos.
[Vinheta Oxigênio]
Lívia: A história da descoberta de novos fármacos nos mostra que a humanidade sempre buscou soluções na natureza.
Lidia: Basicamente, existem duas formas de se descobrir um novo medicamento. A primeira delas é essa, mais lógica, que a Lívia falou, a partir de compostos naturais. Sabe aquele chazinho que a sua vó te indicava pra tratar uma indisposição? Então, esse é o costume mais antigo dos seres humanos, usar compostos naturais pra aliviar sintomas que nos incomodam.
Lívia: Mas, lembra do capivasertibe? Que a gente te apresentou lá no início do episódio? Ele foi descoberto de outra forma, sua origem não é a partir de produtos naturais, seu princípio ativo é uma molécula sintetizada em laboratório.
Lidia: A história do capivasertibe começa com a busca por tratamentos que pudessem atacar o câncer de forma direcionada, agindo nas vias de sinalização celular, que quando desreguladas fazem as células crescerem sem controle.
Lívia: Nos anos 2000, cientistas já sabiam que muitas formas de câncer, especialmente o câncer de mama, apresentavam alterações em um caminho biológico chamado PI3K/AKT, uma espécie de “interruptor” que, quando ligado de forma permanente, fazia as células se multiplicarem descontroladamente.
Lidia: Então, pesquisadores do Instituto de Pesquisa sobre Câncer da Universidade de Cambridge e das empresas Astex e AstraZeneca investiram esforços para desenvolver uma molécula capaz de bloquear a enzima AKT, que é uma das peças centrais desse caminho. Depois de anos de estudos e testes em laboratório, eles desenvolveram o “capivasertibe”, que é uma molécula, pequena, sintética que inibe seletivamente as três isoformas da proteína AKT.
Lívia: Os primeiros ensaios clínicos em humanos começaram por volta de 2013, mostrando que o medicamento era eficaz, principalmente em pacientes com mutações genéticas. Em combinação com terapias hormonais, ele conseguiu reduzir o crescimento tumoral em mulheres com câncer de mama avançado.
Lidia: Dez anos depois, em 2023, após resultados positivos de estudos clínicos em um grupo maior de seres humanos, o capivasertibe foi aprovado, em associação com fulvestranto, e se tornou um dos representantes da nova geração de medicamentos desenvolvidos com foco em alvos específicos disponíveis nas farmácias.
Lívia: Essa é, então, a outra forma que a gente tem de encontrar moléculas pra tratar doenças, ou seja, sintetizando essas moléculas quimicamente em laboratório pra que se liguem de forma seletiva em proteínas relacionadas a alguma doença.
Lidia: É a descoberta de novos fármacos “baseada em alvos”, que a gente falou lá no início.
Lívia: Esse método “baseado em alvos” funciona assim: ao invés dos cientistas partirem de uma molécula com efeito conhecido na natureza, e daí, descobrirem em qual alvo do corpo humano ela atua, eles fazem o caminho inverso selecionam um alvo, ou seja, alguma proteína que esteja relacionada com uma doença, como no caso do câncer de mama e o caminho biológico chamado PI3K/AKT, e, a partir daí, buscam moléculas que possam modular a sua atividade.
[som de laboratório]
Katlin Massirer: Então, aqui dentro temos biólogos, físicos, engenheiros, farmacêuticos, químicos, essas pessoas atuam conjuntamente em diferentes plataformas. Temos uma plataforma, um local onde fazemos produção de proteína, outro local físico no mesmo espaço onde fazemos as moléculas, outro local computacional e um local que é uma sala de células, onde depois nós verificamos nas células se essas moléculas funcionam. Então aqui é a parte de ensaios, né? Para validar. E tem também a parte onde os cientistas ficam juntos e lá a química sintética.
Lívia: Essa é a Katlin Massirer. Ela é farmacêutica e pesquisadora e, nesse áudio que você ouviu, ela tava apresentando pra gente como funciona o laboratório que ela coordena aqui na Unicamp, o Centro de Química Medicinal, CQMED.
Katlin Massirer: Neste laboratório, como se nós trabalhássemos como uma mini empresa farmacêutica na descoberta de novas moléculas que levarão a novos medicamentos a longo prazo.
Lidia: Lembra que a gente falou dos medicamentos que são descobertos por meio daquele método “baseado em alvos”.
Lívia: Os pesquisadores que trabalham junto com a Katlin, no CQMED, fazem exatamente esse trabalho.
Lidia: As pesquisas que são desenvolvidas ali atuam na fase inicial da busca por novas moléculas com potencial terapêutico. No CQMED os cientistas de diferentes áreas do conhecimento trabalham juntos pra identificar os melhores alvos biológicos, produzir esses alvos em laboratório e, daí, iniciar as rodadas em busca de moléculas capazes de interagir com eles e realizar as modificações químicas pra otimizar a ligação entre eles.
Lívia: A Katlin explicou pra gente que as etapas dos estudos, desenvolvidos no CQMED, envolvem a escolha de uma proteína humana (ou de algum parasita), que tenha relação com uma doença. Como a gente já tinha visto lá no caso da proteína AKT, no câncer de mama. Daí, os pesquisadores fazem uma clonagem e produzem essa proteína em laboratório, que depois irão ser testadas com milhares de moléculas químicas iniciais, buscando aquelas que se encaixam nessas proteínas.
Katlin Massirer: E ao longo desse processo, a proteína precisa ser estudada em conjunto com essa molécula, para que nós possamos fazer etapas que permitam entender se elas poderão atuar em conjunto no ser humano e bloquear alguma doença.
Lidia: O laboratório funciona como se fosse uma indústria farmacêutica pequena. Ali os pesquisadores produzem proteínas, que são isoladas, utilizam sistemas de separação e filtragem pra purificar a proteína de interesse e fazem também a cristalografia dessas proteínas com as moléculas ligantes, pra entender a forma como elas interagem.
Katlin Massirer: Nós enviamos esses cristais para uma linha de difração de raio X, que fica locali
Não é de hoje que a quântica carrega um ar de misticismo e a reputação de ser a solução para os mais diversos tipos de problemas, sejam eles relacionados ao corpo ou à alma. Essa fama faz com que o termo seja usado de maneira irresponsável por charlatões que procuram lucrar com a venda de produtos e serviços pseudocientíficos, baseados em mentiras.
Mas fato é que a quântica tem, sim, muitas aplicações reais e é uma área muito importante da ciência – não à toa, foi o tema central do Prêmio Nobel de Física em 2025. Por isso, no quarto episódio da série Parcerias, produzido por Eduarda Moreira e Mayra Trinca junto com o Fronteiras da Ciência, da UFRGS, e em comemoração ao centenário da Física Quântica, trazemos dicas e informações que ajudam a diferenciar o que é do que não é quântica.
___________________________________________________________________
ROTEIRO
Eduarda: Imagina a seguinte cena: um professor entra na sala de aula no primeiro dia do curso e diz:
Pedro: Hoje é um dia muito emocionante pra mim porque vamos começar a estudar Mecânica Quântica, e faremos isso até o fim do período. Agora, eu tenho más notícias e boas notícias: a má notícia é que é um assunto um pouco difícil de acompanhar intuitivamente, e a boa notícia é que ninguém consegue acompanhar intuitivamente. O Richard Feynman, uma das grandes figuras da física, costumava dizer que ninguém entende mecânica quântica. Então, de certa forma, a pressão foi tirada de vocês, porque eu não entendo, vocês não entendem e Feynman não entendia. O ponto é que…o meu objetivo é o seguinte: nesse momento eu sou o único que não entende mecânica quântica nessa sala, mas daqui uns sete dias, todos vocês serão incapazes de entender mecânica quântica também, e aí vão poder espalhar a ignorância de vocês por vários lugares. Esse é o único legado que um professor pode desejar!
Guili: Isso realmente aconteceu! O físico indiano Ramamurti Shankar, professor da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, ficou famoso por esse discurso de boas-vindas – um tanto quanto sincero – aos seus alunos.
Eduarda: Se a quântica é esse negócio tão complicado de entender até pra especialistas da área, imagina pra gente que nem lembra mais as equações que decorou pro vestibular. Não é à toa que muita gente usa o termo “quântico” pra dar um ar científico a produtos que não têm nada de científico, muito menos de quântico.
Guili: A lista é bastante longa: tem “terapia quântica”, “coach quântico”, “sal quântico”, “emagrecimento quântico”… eu tenho certeza que você já se deparou com algum desses por aí. Mas, afinal, como saber o que não é, e, principalmente, o que realmente é a ciência quântica?
Eduarda: É isso que eu, Eduarda Moreira, e o Guili Arenzon vamos te contar no episódio de hoje, que é uma parceria entre o Oxigênio e o Fronteiras da Ciência, podcast de divulgação científica do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Eduarda: Esse episódio é mais um da série comemorativa dos 10 anos do Oxigênio!
Marcelo Knobel: Então, recentemente eu recebi um, inclusive de um aluno, que era uma mesa quântica estelar para resolver processos judiciais, para dar um exemplo extremo do que pode acontecer, mas tem aí cursos de pedagogia quântica, brincadeira quântica para criança, tem pulseiras quânticas e assim vai, é infinita a imaginação humana.
Guili: Esse é o Professor Marcelo Knobel
Marcelo Knobel: …eu sou professor de Física da Unicamp, sou professor há mais de 35 anos, fui reitor da Unicamp, atualmente estou em Trieste, na Itália, como diretor executivo da Academia Mundial de Ciências para Países em Desenvolvimento. E tenho trabalhado com divulgação científica, com gestão universitária, gestão da ciência, e é um prazer estar aqui com vocês.
Guili: O Marcelo tem um gosto pessoal por investigar pseudociências, especialmente as quânticas, o que faz sentido, já que ele também é físico.
Eduarda: Então, a gente conversou com ele justamente pra tentar entender porque as pessoas gostam tanto de usar o termo “quântico” nos mais diferentes contextos.
Marcelo Knobel: Eu acho que a quântica ganhou um imaginário popular como algo complexo, algo realmente que está ali no mundo subatômico, que todos sabem que tem a ver com física, é uma física complexa, difícil de entender, não é trivial, nem para quem faz física, mestrado em física, doutorado, quem trabalha na área, é algo realmente muito, muito complexo de entender, porque tem fenômenos muito esquisitos que acabam acontecendo.
Guili: A percepção de que a física quântica é uma área do conhecimento muito específica e difícil, e o fato de que nem os maiores estudiosos da área entendem completamente – como o professor Shankar falou pros alunos no primeiro dia de aula – acabaram tornando esse termo um prato cheio pros charlatões.
Marcelo Knobel: …primeiro que ela exige e tem um formalismo matemático bastante avançado e complexo. Então, você precisa conhecer um pouco mais de matemática avançada para poder, digamos assim, realizar as fórmulas e tal.
Eduarda: Se fosse só a matemática, a coisa ainda seria um pouco mais simples. Ok, eu não sei matemática avançada e talvez você também não saiba, mas eu consigo ver os efeitos de contas complexas que garantem que um prédio, por exemplo, vai se sustentar. Afinal, eu tô vendo o prédio ali, em pé.
Guili: O problema com a quântica é um pouco mais complicado do que isso porque
Marcelo Knobel: …de fato, tem umas coisas que são inacreditáveis do ponto de vista da nossa realidade e da nossa vida. Você tem aí uma miríade de fenômenos que são completamente estranhos à nossa realidade do dia a dia. Então, acabou tendo essa aura de algo misterioso.
Guili: O que o Marcelo tá dizendo é que é muito mais difícil a gente conseguir observar os fenômenos quânticos no nosso dia a dia, por mais que eles estejam ali.
Nara Rubiano: Física quântica é uma área da física em que a gente estuda fenômenos das coisas muito pequenas, das coisas do mundo microscópico…Então, as coisas do mundo macroscópico a gente não precisa de física quântica para entender, a gente precisa de física clássica e já tá bom.
Eduarda: Essa que você ouviu agora, é a professora Nara.
Nara Rubiano: Meu nome é Nara Rubiano da Silva, eu sou professora na UFSC de Florianópolis. Hoje em dia eu trabalho com óptica quântica, com óptica clássica e já trabalhei bastante também com microscopia eletrônica de transmissão.
Eduarda: A Nara acabou migrando pra quântica depois que começou a se aprofundar mais nessa área, pra tentar entender melhor como funcionam os equipamentos com os quais ela trabalhava.
Nara Rubiano: Para entender o microscópio eletrônico de transmissão, a gente parte muito do do entendimento quântico dos elétrons, né? Os elétrons, assim como outras partículas quânticas, outros objetos quânticos, ele tem algumas propriedades interessantes que a gente explora para fazer microscopia.
Guili: Microscópios de transmissão são equipamentos super potentes, capazes até de gerar imagens de moléculas que estão dentro de uma célula. Essas estruturas são tão, mas tão pequenas que as lentes de aumento que usam luz dos microscópios tradicionais não dão conta de distinguir.
Guili: Mas, calma, antes da gente entrar nesse novo mundo pra tentar entender o que é física quântica, de fato, uma etapa muito importante desse aprendizado é saber identificar o que não é.
Eduarda: No meio de tanto charlatanismo, às vezes fica difícil diferenciar o que é informação confiável e o que é propaganda enganosa de produtos que se dizem científicos e eficazes, mas são pura mentira. O Professor Marcelo têm algumas dicas interessantes nesse sentido…
Marcelo Knobel: Tem o que se chama kit de detecção de bobagens, que você sempre pode usar. Em primeiro lugar, é o que a gente chamaria em português, o simancol. Sempre colocar dúvida, pensar que nem sempre o que tem o palavreado muito complexo e científico é ciência. Tudo aquilo que alguém fala com muita convicção, muita certeza, já acende uma luz amarela que realmente pode não ser científico. Os cientistas, em geral, não têm tanta certeza assim das coisas.
Eduarda: Hoje em dia, com a Inteligência Artificial criando vídeos e áudios falsos, fica cada vez mais difícil saber diferenciar esses conteúdos do que é informação real e de boa qualidade. Então quando você vir uma coisa muito incrível, o melhor a fazer é se esforçar um pouquinho e pesquisar.
Marcelo Knobel: Em geral, você consegue, com um pouco de paciência, procurar alguma informação, ver se aquilo é, de fato, consenso ou não é, se existe trabalho científico sobre o assunto. Então, às vezes, exige um pouquinho mais de atenção e cuidado, mas, de uma maneira geral, hoje a gente tem a sorte de ter internet que permite um pouco esse cuidado. O importante é não repassar essas informações sem ter certezas
Guili: A verdade é que essa associação entre a quântica e o universo místico existe há bastante tempo.
Rafael Chaves: Então, para dizer que, na verdade, essa ideia meio alternativa, meio mística em torno da quântica já vem desde muito tempo. E o que aconteceu, talvez, ao longo das últimas duas décadas, é que isso se popularizou. Anteriormente, essas ideias estavam restritas a livros, talvez algum documentário. E hoje em dia, com as redes sociais, com uma forma muito mais eficiente de se transmitir informação, seja ela verdadeira ou falsa, fez com que a coisa tomasse uma proporção muito maior.
Guili: Esse que você acabou de ouvir é o Rafael Chaves, ele é professor, pesquisador e divulgador científico na área de quântica, além de ser vice-diretor do Instituto Internacional de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal.
Rafael Chaves: A física quântica é meio contraintuitiva, meio esquisita. Aparentemente, ninguém entende muito bem. Então, tem essa outra coisa aqui, que também parece muito esquisita, que ninguém entende muito bem.
Guili: Tipo telepatia, memória da água, astrologia…
Rafael Chaves: Então, tem duas coisas que ninguém entende muito bem, então elas devem est
Ao planejar a série comemorativa dos 10 anos, a equipe do Oxigênio pensou em vários podcasts que poderíamos convidar e logo veio a ideia de convidar o Vida de Jornalista, um podcast independente, conduzido pelo jornalista Rodrigo Alves. Além de produzir o podcast que é uma referência para quem faz e quem estuda jornalismo, Rodrigo oferece oficinas de podcast e algumas pessoas do grupo já tinham sido suas alunas. Convite aceito, logo nos reunimos online e acertamos quem seria nossa entrevistada: Sônia Bridi, de quem faríamos o perfil, buscando mesclar com elementos do jornalismo narrativo, no estilo do Oxigênio. Nosso parceiro entrou de cabeça no projeto. Com contatos na Globo, onde trabalhou por alguns anos, e amigos em comum, Rodrigo conseguiu fazer o convite e a Sônia aceitou. Entrevista agendada, estúdio reservado, e aí tivemos uma breve disputa para ver quem seria a/o privilegiado de entrevistar a grande jornalista, junto com o Vida de Jornalista, no Estúdio Rastro, no Rio… e a coordenadora do podcast, que dificilmente produz um episódio, ganhou a disputa.
Bem, neste episódio saímos bastante do padrão do Oxigênio, estando mais próximo dos episódios produzidos pelo Vida de Jornalista, nosso parceiro neste episódio da série Parcerias. Com uma hora de duração e apenas uma entrevistada, o episódio traz várias histórias da jornalista Sônia Bridi, um ícone do jornalismo brasileiro, bastante conhecida por seu trabalho na TV, mas que nossos ouvintes vão ouvir que antes de chegar ao Fantástico, Sônia realizou outros trabalhos. Apresentamos nesse perfil, histórias de jornalismo, de jornalismo científico, socioambiental, e algumas passagens da vida pessoal da nossa entrevistada.
Agradecemos muito a disponibilidade de Sônia pra dar a entrevista e em especial ao Rodrigo Alves que fez um trabalho incrível de edição do material (enorme) e por ter aceito tocar essa parceria com o Oxigênio.
_______________________________
Roteiro
[Vinheta Oxigênio: Voz feminina: Você está ouvindo Oxigênio].
[MÚSICA – Todas as músicas do episódio são tocadas no violão].
SÔNIA BRIDI: Eu sempre falo isso. Que eu era uma criança deslumbradona assim, sabe, de deitar na grama e ficar olhando para as nuvens, e tentar entender por que é que umas estavam indo para um lado e outras estavam indo para o outro. Adorava ficar observando. Adorava ficar olhando o céu de noite. Naquelas noites frias de inverno. Então, pouca poluição luminosa. Ficava aquele céuzão assim que parecia que ia cair em cima da gente. E eu gostava de andar no mato. Eu gostava de olhar as flores, as plantas. Eu tinha uma horta em casa que eu cuidava. E eu me lembro que eu amava pegar a enciclopédia e ficar: como são formados os vulcões? O Popocatepetl surgiu de um dia para outro numa plantação de milho no México. E aquilo, para mim, era um troço assim incrível. Eu tinha curiosidade. E a ciência é fascinante, né? A ciência, quanto mais a gente sabe, mais a gente se dá conta que não sabe. E mais fascinante vai ficando e mais curiosa a gente fica.
[MÚSICA]
RODRIGO ALVES: Essa voz que você ouviu na abertura… você provavelmente já sabe quem é. Não só porque você já deve ter visto o título do episódio, mas porque você já deve ter escutado muito essa voz na televisão. A gente tá falando de uma lenda do jornalismo brasileiro. A Sônia Bridi. E sim, esse é um perfil que vai passar por toda a trajetória dela.
SIMONE: E esta voz que você acaba de ouvir é bem provável que você também conheça. É o Rodrigo Alves, do podcast Vida de Jornalista. Oi, Rodrigo, você pode se apresentar e apresentar o Vida pra quem ainda não conhece.
RODRIGO: Oi oi. Obrigado demais por essa parceria, tô muito feliz de dividir esse episódio com o Oxigênio. Parabéns pelos 10 anos. O Vida de Jornalista tem 7 anos e eu já acho que é muita coisa, imagina o Oxigênio que tá na estrada há tanto tempo. O Vida é um podcast narrativo com histórias e bastidores do jornalismo. Então esse episódio é uma honra pra mim, tanto pela nossa parceria, como pela entrevistada.
SIMONE: E eu sou a Simone Pallone, coordenadora do Oxigênio. Este é o episódio número 202 e o terceiro da nossa série comemorativa dos 10 anos, que estamos fazendo com podcasts que admiramos. Fizemos o convite ao Rodrigo e ele não só aceitou, como entrou de cabeça na produção do episódio. E pra celebrar esse encontro, entrevistamos a incrível Sônia Bridi.
O episódio está bem diferente dos outros. Está mais longo e temos uma única entrevistada. Aproveitamos a parceria com o Vida, que tem produzido uma série de perfis, pra inovar.
Esse material está também no feed do Vida de Jornalista, com uma abertura um pouco diferente, mas o conteúdo da entrevista é o mesmo. E pra você que ainda não segue o Vida, aproveita pra começar a seguir. Você não vai se arrepender.
E vamos à entrevista que, como diz o Rodrigo, a gente começa do começo. No caso da Sônia, a quem agradecemos muito que tenha aceitado o nosso convite, o começo é em Santa Catarina.
SÔNIA BRIDI: As minhas memórias de infância são sempre relacionadas ao frio, a pinhão na chapa, torrando. A casa, a primeira casa que me lembro de onde morei era uma casa que não tinha energia elétrica e ficava dentro do pátio de uma serraria. Meu pai tinha uma serraria, meu pai era madeireiro. Então, você vai vendo que a minha conta carbono é cumulativa.
RODRIGO: Se você tá achando curioso o fato de que a Sônia Bridi, tão ligada à ciência e ao meio ambiente, tinha um pai madeireiro, calma que daqui a pouquinho ela vai voltar nessa história. Mas antes a gente precisa entender como o jornalismo apareceu na vida dela.
SÔNIA BRIDI: E aí, quando eu estava com 5 anos, a minha família decide se mudar para Caçador, para a sede da cidade, porque meus irmãos mais velhos já estavam indo para a escola, e a escola ali era muito precária. E meus pais tinham 4 anos de estudo cada um, e eles fizeram da vida deles o objetivo que os filhos tivessem acesso à escola, estudo, enfim. E a minha mãe, o sonho dela era ter sido professora, por ela as 6 filhas seriam todas professoras. Tem uma, pelo menos, que é professora universitária. E ela fazia uns cartões, assim, para ensinar os meus irmãos mais velhos a ler. E nesse ponto em que ela estava ensinando meus irmãos, quem está ali na obrigação não presta muita atenção, quem não está na obrigação está mais de olho, né? E ela botava uma palavra e eu dizia bote, pato, não sei o quê, e ela dizia, você está adivinhando? E aí começou… eu estava lendo, porque eu estava prestando mais atenção do que… Então, quando eu entrei na escola com 6 anos, eu já estava alfabetizada, eu lia livrinho. Eu odiei a escola no primeiro ano, porque eu sabia tudo e eu era faladeirinha e tal. Então, a professora perguntava coisas, eu levantava o braço e ela ficava meio irritada comigo. E às vezes eu dizia que estava doente e ficava em casa lendo sozinha, porque era um silêncio na casa. Meus irmãos, todos na escola, nós somos oito. Ficava aquele silêncio e eu lá com o meu livrinho. Então, era assim, era o meu momento. E como é que o jornalismo entra nessa história? No quarto ano, estávamos lá com uma professora maravilhosa. A professora Tânia. A Tânia era uma moça bonita, bonita, uma italiana de cabelo preto e os olhos azuis. Linda, linda! É claro que todos os alunos, nós éramos todos fascinados por ela, porque, além de ser linda, ela era uma professora maravilhosa. E ela levou a gente para conhecer uma fábrica de papel que tem na cidade. E ela disse: vocês perguntam tudo o que quiserem saber e, quando voltarem, vão fazer uma redação. Aí eu peguei um gravador, imagina, era uma caixona desse tamanho, emprestado de um amigo, e eu fiquei fazendo perguntas para todo mundo. Eu entrevistei todo mundo. Não sei de onde tirei aquela ideia. E aí fiz uma redação, que foi a minha primeira reportagem, eu acho. E aí a professora, quando entregou para mim, disse: Sônia, você devia ser jornalista.
[MÚSICA]
SÔNIA BRIDI: Eu trabalhei na creche local, acho que eu tinha uns 12, 13, ajudei a fazer um levantamento no bairro inteiro de quantas crianças em idade pré-escolar tinham, porque estava abrindo uma creche e tal, e depois eu fui assistente lá na creche. Aí aquele contratinho de um ano acabou, a paróquia estava sem ninguém para fazer secretaria, e eu fui trabalhar de secretária na paróquia. Mas, por mais que eu gostasse do padre Silas, que era o nosso padre lá da paróquia e tudo, era um trabalho bem chato. E aí eu pensei, eu queria ser jornalista, né, estou pensando nisso para o meu futuro, aí eu já estava com 14 anos.
RODRIGO: Aquela professora tinha falado aquilo e ficou…
SÔNIA: Ficou ali, e eu continuava, eu fazia as redações, tinha concurso de redação. E aí tinha um jornal local que saía duas vezes por semana. Um belo dia, eu disse: quer saber de uma coisa? Eu vou pedir emprego lá. Aí cheguei e falei com o Nilson Thomé, um grande historiador, um intelectual daqueles que aparecem muito de vez em quando no mundo. É claro que eu bati lá. O Nilson: quando você crescer, você volta. E aí eu achei, levei literalmente, achei que fiz aniversário, volto lá. E num desses dias que eu voltei lá, o meu professor de português estava lá. E aí eu saí e ele falou: mas o que a minha aluna estava fazendo aqui? Ela está querendo emprego. Ele disse: dá um trabalho para ela, ela é boa aluna. E aí ele me disse assim, olha, se você quiser, você pode fazer uma coluna, mas você vai ter que vender o patrocínio da coluna. Eu nunca ganhei um tostão em dinheiro, mas eu fazia permuta com as lojas de discos e de livros. E aí eu vivi a minha vida assim até mudar para Florianópolis, onde eu consegui um trabalho de redatora numa rádio FM, que era bem inovadora, porque era uma rádio de notícias em FM.
RODRIGO: E você foi para Floripa para fazer a faculdade de filosofia, né?
SÔNIA: Fui fazer filosofia.
RODRIGO: Por que filosofia?
SÔNIA: Ah sei lá, eu era uma garota meio estranha, eu acho, né? E a faculdade de filosofia não resistiu à minha entrada em uma redação. A minha paixão ficou muit
Neste episódio, você acompanha Mayra Trinca e Lidia Torres em uma conversa sobre uma pesquisa de percepção de mudanças climáticas com cafeicultores. A pesquisa faz parte do projeto Coffee Change, parte de um grande projeto interdisciplinar sediado na Unicamp. Ao longo do episódio, as professoras Simone Pallone e Claudia Pfeiffer explicam mais sobre suas pesquisas e falam sobre as vantagens do método utilizado: os grupos focais. Participa também do episódio Guilherme Torres, doutor em Geografia, que participa do projeto e acompanhou o grupo nas pesquisas.
______________________________________
ROTEIRO
MAYRA: Foi. Então agora que eu aprendi a usar esse gravador, onde é que a
gente tá indo?
SIMONE: A gente tá indo pra Espírito Santo do Pinhal.
MAYRA: E o que que a gente tá indo fazer lá?
SIMONE: Vamos fazer um grupo focal com produtoras de café. Dessa vez a gente vai fazer um grupo só de mulheres produtoras, cafeicultoras. 0:25 [encerra áudio]
MAYRA: Na verdade, eu ainda não tinha aprendido a usar o gravador.
MAYRA: e aí eu gravei um monte de coisa legal e descobri que eu não tava gravando
LIDIA: Mas, calma, fica aqui, a gente ainda tinha um tempo de viagem pela frente e regravamos tudo que foi falado de interessante.
MAYRA: E é isso que vamos te contar aqui agora. Eu sou a Mayra Trinca.
LIDIA: E eu sou a Lidia Torres. Nesse episódio do Oxigênio vamos te falar como são feitas algumas das pesquisas que investigam a relação de produtores de café com as mudanças climáticas. Elas fazem parte do programa Coffee Change, que é um braço do grande projeto interdisciplinar, BIOS.
[VINHETA: Você está ouvindo Oxigênio, um programa de ciência, cultura e tecnologia]
LIDIA: Naquele dia, a gente tava a caminho da cidade Espírito Santo do Pinhal…
MAYRA: pra acompanhar a parte de uma pesquisa que a professora Simone Pallone faz parte, que é a coordenadora aqui do Oxigênio. Então, você vai ter a possibilidade ilustre de ouvir a voz da Simone, que sempre foge dos microfones.
MAYRA: Pinhal, pros íntimos, é uma cidadezinha no interior de São Paulo, quase chegando na divisa do Sul de Minas Gerais. “A gente” era eu, a Lidia, a Simone e o Guilherme, que vocês vão conhecer daqui a pouco.
LIDIA: O objetivo da visita era fazer o terceiro grupo focal de um estudo que está em andamento, coordenado pela professora Claudia Pfeiffer – que ainda vai aparecer nesse episódio – e que a Simone também participa.
MAYRA: Então, Simone, explica pra gente o que é um grupo focal.
SIMONE: Bom, grupo focal é uma técnica de pesquisa usada bastante nas áreas de comunicação, de ciências sociais, na área de saúde também, que você reúne um grupo de pessoas, que aí você define que perfil vão ter esses participantes, pra tratarem, pra conversarem sobre um assunto determinado. Então, no nosso caso, a gente vai conversar sobre mudanças climáticas.
SIMONE: Então, eu vou procurar pistas em relação ao que esses produtores conhecem sobre ciência e tecnologia, como os conhecimentos deles sobre ciência interferem na interpretação deles sobre as mudanças climáticas, e também sobre como eles se informam sobre isso, como eles se informam a respeito de ciência e tecnologia, em quem eles confiam para se informar sobre essas questões, e quais são as atitudes, como eles se preparam para enfrentamento dessas questões, ou o que eles estão dispostos a fazer em prol de atender, de mitigar os efeitos, ou se adaptar aos efeitos que eles identificam sobre mudanças climáticas.
MAYRA: Você deve ter percebido uma diferença grande na qualidade desse áudio da Simone agora. É que depois do Grupo Focal, a gente sentou de novo no estúdio aqui do Labjor pra conversar mais e entender alguns pontos importantes que surgiram depois da nossa ida pra Pinhal.
LIDIA: A gente pediu pra Simone explicar melhor como é possível investigar essas questões, que são hipóteses de pesquisa, através de uma roda de conversa entre produtores.
SIMONE: A gente lança algumas perguntas e, na discussão, na conversa, conforme eles vão respondendo e interagindo com as respostas de outras pessoas que estão fazendo parte do grupo, a gente vai formando uma opinião sobre o que eles entendem, como eles estão agindo, como eles estão se informando, para que a gente tenha instrumentos também para oferecer alguma coisa que possa ajudá-los.
MAYRA: Então, em cada grupo focal, e foram 3 nessa pesquisa, as pesquisadoras levantaram algumas perguntas disparadoras, que serviam pra começar uma conversa sobre um determinado tópico.
LIDIA: Conforme as pessoas vão respondendo e conversando entre si, se complementando, a pesquisadora vai anotando os pontos chaves que percebe, quais comentários se repetem, o que aparece de diferente ou surpreendente.
MAYRA: Ah, e o encontro do grupo é filmado também. Porque daí é possível voltar pra esse vídeo depois e captar mais detalhes da conversa, reconhecer quem tá falando, quais pessoas conversam mais entre si e até as expressões faciais e movimentos durante a fala que ajudam a entender os sentimentos envolvidos ali.
LIDIA: Mas é importante dizer que esse vídeo não é divulgado, assim como a gravação do grupo. Antes da pesquisa, todas as pessoas que forem participar tem que autorizar o uso desse material, através de um termo de consentimento livre e esclarecido
SIMONE: Que é um termo que tá justificando, explicando o que é pesquisa, justificando os objetivos e quais são os procedimentos. E a gente dá a certeza para a pessoa que a gente não vai usar essas informações, essa participação dela em em em outras coisas que não sejam essa pesquisa.
MAYRA: Ainda assim, a presença da câmera e do gravador pode ser um ponto de preocupação pra algumas pessoas. A Lidia mesmo tava me contando no carro, indo pra Pinhal, que antes de trabalhar com grupos focais, ela não gostava muito da ideia.
MAYRA: Lídia, por que antes você não amava grupo focal?
LIDIA: Porque eu ficava preocupada, assim, eu nunca tinha participado de um, eu nem conhecia o termo, e eu achava que essa coisa de filmar, de gravar, de reunir várias pessoas junto, podia viciar a resposta de uma ou outra pessoa. Mas aí, quando eu participei do primeiro grupo focal, eu vi que, na verdade, as pessoas no começo tem mesmo esse receio, né, porque é equipamento, é câmera, é gravador, mas que tem qualquer pesquisa que a gente vai fazer, é um receio inicial, normal, mas depois as pessoas começam a conversar muito sobre o cotidiano, compartilhar informações, eu sinto que fica uma coisa mais afetiva até, mais próxima, assim, do que algumas entrevistas que a gente faz muito separado.
SIMONE: Eu acho que justamente essa é a vantagem do grupo focal na pesquisa de percepção, porque você deixa o ambiente mais à vontade, mais descontraído, quando a gente vai conversando e as pessoas comentam, fazem piadinhas, então, ali, no caso desses grupos que a gente está fazendo, são pessoas que geralmente se conhecem, e um vai puxando a memória do outro, mas lembra daquela seca que teve em 1900, não sei quanto, então, essa troca de informações também nos interessa, saber como o conhecimento vai se construindo ali na conversa, então é bem interessante, eu sou fã.
LIDIA: A Claudia Pfeiffer, uma das coordenadoras do projeto, que é pesquisadora no Labeurb, o Laboratório de Estudos Urbanos aqui da Unicamp, também falou pra gente sobre a importância do método do Grupo Focal pra melhorar a integração entre as pessoas que participam da pesquisa.
CLAUDIA: O que acontece é que o grupo focal permite que a conversa seja estabelecida entre os pares. Você sempre tem um momento ainda de desarranjo, de receios, ou mesmo vergonha de tomar a palavra. Mas, depois que a conversa anda, ela desanda justamente na possibilidade de um puxar um fio que o outro tece junto. Só o acontecimento do grupo focal eu já considero um acontecimento muito importante.
[TRILHA – Música “Bebida Preta” de Rudi Vilela]
MAYRA: Então, vamos lá… o Coffee Change é um projeto interdisciplinar da Unicamp que conta com pesquisadores das áreas de climatologia, agronomia, comunicação, linguística e economia. O projeto faz parte de um dos segmentos do eixo temático Agro do Centro BI0S, que também está sediado na Unicamp.
LIDIA: O projeto reúne várias áreas de pesquisa, mas que têm em comum um objetivo, que é investigar como as mudanças climáticas afetam a cultura do café e também trazer soluções para reduzir os efeitos das mudanças climáticas.
MAYRA: Uma das frentes desse projeto, que é coordenada pelas professoras, é sobre a Percepção Pública da Ciência. A Simone explicou pra gente um pouquinho sobre isso:
SIMONE: No nosso caso específico do Coffee Change, a gente, na verdade, está usando dois referenciais teóricos, que são da Análise do Discurso, porque é a área que é o campo de estudos da Cláudia Pfeiffer, que eu não domino, e o campo de estudos sociais da ciência e tecnologia, e da área de comunicação, que são os dois campos que eu costumo estudar.
LIDIA: Esse é outro ponto forte dos grupos focais, eles podem ser uma ótima ferramenta para pesquisas interdisciplinares, que se debruçam sobre um mesmo material, mas com olhares diferentes, gerando resultados que se complementam. Foi aí que a Claudia, que trabalha com Análise do Discurso, encontrou a Simone, que trabalha com Percepção Pública da Ciência, para embarcar nesse grande projeto que é o Coffee Change.
CLAUDIA: Então, eu sempre me refiro muito à pessoa, né, do pesquisador Dr. Jurandir Zulu Júnior, que foi o responsável por me trazer para a área das mudanças climáticas, né. Eu sou analista de discurso, trabalho há bastante tempo com políticas públicas.
CLAUDIA: E, quando surge a possibilidade desse grupo se configurar em torno desse grande projeto do BIOS, ele volta a me convidar para pensar especificamente agora as mudanças climáticas na relação com os produtores agrícolas, né. E aí, como a questão da percepção é muito forte na pesquisa da Simone Pallone, então, imediatamente eu também a convidei para a gente fazer essa parceria, apesar da gente ancorar a nossa análise em pressup
Este é o primeiro episódio de uma série que a pesquisadora Liniane Haag Brum desenvolveu para o Oxigênio. Trata-se da divulgação de um conjunto de documentários produzidos pelo cineasta Ugo Giorgetti, que foram tema de estudo de um pós-doutorado que Liniane desenvolveu no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor), da Unicamp, intitulado: “Contra o apagamento, o cinema de não ficção de Ugo Giorgetti”.
Neste episódio nossos ouvintes vão conhecer um pouco sobre os documentários “Pizza”, de 2005 e “Em busca da pátria perdida”, de 2008. Os dois próximos serão: “Variações sobre um quarteto de cordas” e “Santana em Santana”.
Acompanhe aqui a série!
_______________________________________
[Trilha sonora do documentário “Pizza”]
Liniane: O cineasta Ugo Giorgetti é conhecido por abordar a cidade de São Paulo em sua obra. Um dos seus filmes mais conhecidos é “Boleiros – Era Uma Vez o Futebol”. O longa-metragem apresenta histórias de um grupo de ex-jogadores que se reúne em um boteco paulistano e relembra glórias e fracassos da profissão. A produção é de 1998 e tem a participação de nomes como Denise Fraga e Lima Duarte.
A filmografia de Ugo Giorgetti conta com 31 títulos, entre longas-metragens ficcionais, documentários e peças audiovisuais de não ficção de formatos variados.
Mas, como o diretor continua em atividade, esse número não para de crescer.
Nesse episódio, iremos tratar de uma parte pouco explorada da obra de Giorgetti, – o perfil documentarista desse importante diretor brasileiro.
Meu nome é Liniane Haag Brum, sou doutora em teoria e crítica literária pela Unicamp e realizei a pesquisa de pós-doutorado “Contra o apagamento – o cinema de não ficção de Ugo Giorgetti” também na Unicamp, no Labjor, com o apoio da Fapesp.
Essa pesquisa surgiu da descoberta de uma lacuna. Percebi que não havia nenhum estudo sobre a obra de não ficção de Giorgetti. Apesar de ela ser tão expressiva quanto a sua ficção, e mais extensa.
Lidia: E eu sou a Lidia Torres, sou doutoranda em Ciências Sociais pela Unicamp e especialista em Jornalismo Científico pelo Labjor, também na Unicamp. Atualmente pesquiso memórias e oralidades, e também produzo documentários. Eu colaborei com o roteiro desse podcast e vou apresentá-lo junto com a Liniane.
Vamos trazer um recorte desse estudo. Ou seja, vamos apresentar dois filmes que fazem parte da pesquisa: os médias-metragens “Pizza” e “Em Busca da Pátria Perdida”. Em outro episódio traremos mais dois, acompanhe o Oxigênio para não perder.
Lidia: Você lembra que bem no início do episódio a gente afirmou que Ugo Giorgetti aborda a cidade de São Paulo em sua obra? Só que afirmar isso é um pouco “chover no molhado”. Que o cineasta retrata a metrópole em sua obra, muita gente sabe, o que poucas pessoas sabem é sobre quais os procedimentos e recursos de linguagem ele usou pra tratar o conteúdo dos documentários, trazendo toda a complexidade da capital paulista.
[Vinheta Oxigênio]
Liniane: Pra começar, vamos de “Pizza”?
[Trilha sonora do documentário “Pizza”, do Maestro Mauro Giorgetti]
Sabe aquele documentário que coloca o espectador aos poucos dentro da narrativa? “Pizza” é assim.
Ele inicia com dona Amélia Baraglia, que sempre morou no bairro da Mooca:
“Pizza”: Tinha um senhor, chamava César, o nome dele. E ele fazia pizza no fundo do quintal dele, ele tinha um forno à lenha, ele fazia pizza. Fazia um pizzinha assim, um pouquinho maior que o brotinho, mas era uma delícia a pizza dele. Aí ele enchia uma lata enorme de alumínio, com as pizzas uma em cima da outra; ele tinha um pano branco que era a coisa mais branca que eu vi na minha vida, ele jogava no ombro, punha aquela lata no ombro e saia nas ruas para vender pizza.
Liniane: O que esse depoimento desperta na gente é mais do universo afetivo e sentimental. Mas, aos poucos esse tom muda, fica mais direto, sem nunca perder a subjetividade do relato:
“Pizza”: A pizza da Castelões não é uma pizza de massa grossa, a massa é extremamente fina no centro, a única coisa, o que diferencia, é que a borda dela é alta, é uma borda que cresce. Isso é uma pizza tipicamente napolitana, de onde venho, a nossa receita.
Liniane: Esse que você acabou de ouvir é o Fabio Donato, dono da Castelões e neto de Vicente Donato, que fundou a pizzaria. Castelões talvez seja a cantina mais antiga da capital paulista. Ela foi inaugurada em 1924, no bairro do Brás, onde se concentrava parte dos imigrantes italianos que viviam em São Paulo.
Lidia: Logo no começo do documentário também tem o depoimento da Cibele Freitas, uma das sócias da pizzaria chamada A Tal da Pizza:
“Pizza”/Cibele Freitas: A Tal da Pizza é uma pizzaria diferenciada em primeiro lugar pela qualidade de seu produto, que é um produto escolhido por nós, os proprietários que fazemos as compras. Além da massa, que é receita e segredo da família, essa linguiça também era uma receita do meu avô e que era feita por ele até quando ele faleceu e hoje é feita por uma prima da minha mãe, que deu continuidade. Hoje a gente já desenvolveu né, a gente brinca que é como se fosse um blend, é um blend na verdade que é o segredo aonde naquele segredo é misturado a massa.
Lidia: A Tal da Pizza tem unidades no Itaim Bibi e na Granja Viana, bairros nobres localizados no oeste da capital paulista. Ela foi criada com o propósito de reproduzir um ambiente aconchegante e íntimo, onde os clientes pudessem servir-se e comer sem o atendimento de garçons, ao som de um piano e de músicas suaves.
Lidia: Além da Castelões e da Tal da Pizza, Ugo Giorgetti e sua equipe estiveram em estabelecimentos espalhados por outros seis bairros: Heliópolis, Centro, Mooca, Belenzinho, Jardim Paulista e Jardim Ângela.
[Som de tráfego de cidade grande: buzinas, carros e ruídos de fundo diversos.]
Liniane: O documentário fez um verdadeiro passeio por São Paulo. Entrevistou pizzaiolos, gerentes e proprietários de pizzarias, entregadores e até clientes. Por isso, parece óbvio concluir que o documentário é sobre pizza: como é feita, suas origens, os tipos e sabores. Inclusive se você pesquisar na internet, talvez encontre a seguinte sinopse:
“A cidade de São Paulo é o pano de fundo deste documentário em que o tema é a especialidade da culinária paulistana, a pizza”.
[Música “Funiculí, Funiculà”, de Francesco Daddi, 1906.]
Lidia: Pois é, “Pizza” dá a entender, no começo, que seu principal assunto é, justamente, a pizza.
Liniane: Só que a pizza é apenas um pretexto para que o documentário trate das contradições da cidade, de suas desigualdades, diversidade e cosmopolitismo. Eu conversei com Ugo Giorgetti sobre esse e o outro filme que esse episódio vai tratar. Ele me explicou o seguinte:
Ugo Giorgetti: Olha, eu tô sempre à procura de temas, temas que tenham algum significado na vida, né, na sociedade, e que também se originem dela. Porque que não adianta eu fazer alguma coisa absolutamente extravagante, que não se relaciona com nada, com o real. São certas coisas assim que você não dá nenhuma importância, a história do cotidiano mais vulgar, que no fundo são importantes. Então a pizza é isso, eu sempre achei que ela era uma coisa que você podia falar dela, sem precisar falar sobre todo mundo, sem precisar dar lições de sociologia: essa região assim, essa região assado, essa região come assim ou come assado. A pizza resolve todos esses problemas. E além do que ela te proporciona uma visão de certos lugares da cidade. Vários lugares da cidade, não certos, vários.
Lidia: Agora você vai ouvir o Raimundo Vieira de Oliveira, proprietário da Pizzaria Copan, que fica no Edifício homônimo, localizado no centro de São Paulo. O prédio foi projetado por Oscar Niemayer e uma de suas principais características é abrigar um número imenso de moradores em 1.160 apartamentos. Escuta só:
“Pizza”: Eu inventei uma pizza, a pizza Viagra, que é muito boa. Que o composto dela, os ingredientes, que é mussarela, ovo de codorna, amendoim, champignon; são produtos, são ingredientes afrodisíacos. E realmente faz um sucesso aqui. Ugo Giorgetti: Vem cá, você inventou essa pizza especialmente no Copan, tem alguma ligação aí? Raimundo: Não, só foi por causa da novidade do remédio que foi lançado aqui no Brasil, acabei lançando essa pizza que foi um sucesso.
Lidia: Faltou informar que “Pizza” é uma produção de 2005. Isso para dizer que Raimundo Vieira de Oliveira foi entrevistado lá em 2004, OK?
[Efeito sonoro de carros trafegando]
Liniane: A câmera de Giorgetti também registrou Heliópolis, bairro de aproximadamente 1 milhão de habitantes situado no sudeste de São Paulo, no distrito de Sacomã. Lá o Alexandre Tadeu Pinto, conhecido como Cuca e dono da pizzaria Mestre Cuca, contou para o diretor que inventou uma pizza chamada Larica.
“Pizza”: Porque o pessoal, principalmente os jovens hoje, falam nossa eu tô na larica, né. Tá na maior fome, precisa de uma pizza legal. Aí eu botei vários ingredientes. E fico legal, pegou.
Liniane:O diretor do documentário conversou com Celso Ferreira Alves, pizzaiolo da Pizzaria do Cuca, para saber mais sobre a invenção culinária:
“Pizza”: Ugo Giorgetti: E a pizza larica? Celso Ferreira Alves: Larica é boa. Povo só come quando tá na larica mesmo. Ugo Giorgetti: Como é que é? Celso Ferreira Alves: Ela vai bastante coisa, é mussarela, milho, bacon, palmito, catupiry e calabresa e presunto. O que tem na pizzaria, vai tudo nela. Quando sai uma aqui na pauleira é o maior trabalho, viu!
Lidia: Mas a conversa não parou por aí. Ouvindo o diálogo, a gente percebe que o diretor documentou os modos de fazer a pizza, mirando nas histórias de vida das pessoas. Outro trecho da conversa de Ugo Giorgetti com Celso Ferreira Alves, o pizzaiolo da Pizzaria do Cuca, revela como os modos de fazer a pizza, dizem também sobre os diversos modos e motivos de ser morador de São Paulo.
“Pizza”: Ugo Giorgetti: Você veio pra São Paulo por que? Celso Ferreira Alves: Por causa da falta de desemprego né. Na Bahia não tem emprego pra gente, né. Tem a roça, só. E a roça você trabalha lá e nã
Neste novo episódio da série Termos Ambíguos, o verbete abordado é o “Politicamente Correto”. O termo começou a ser usado no século XVIII, nos Estados Unidos, para denotar visões e ações políticas e sociais consideradas “corretas e justas” . Como outros termos, aos poucos passou a ser acionado para defender ou justificar declarações que ofendem e agridem verbalmente pessoas negras, mulheres, pessoas LGBTQIA+, PCD’s e outras minorias. Humoristas têm sido grandes opositores do termo, alegando que o politicamente fere a liberdade de expressão. Ouvimos as especialistas Nana Soares, Joana Plaza e Anna Bentes sobre o uso e a desqualificação do termo.
________________________________________________
ROTEIRO
Gravação Léo Lins (Humorista): “Tudo fica divertido. Se alguém fala ‘Po, o que aconteceu ali? Um estupro’. Pesado. ‘Que que aconteceu ali? Um estuprito’ Divertido. Estuprito? Posso participar um pouquito? Só a cabecita”.
Tatiane: Essa fala foi dita pelo humorista Leo Lins pra ser engraçada, mas brincar com estupro, vamos combinar, não tem nenhuma graça.
Daniel: Em junho de 2025, Leo Lins foi condenado a 8 anos e meio de prisão por incitação à discriminação contra pessoas com deficiência. A decisão reconheceu que o conteúdo de suas piadas ultrapassa os limites do humor e configura discurso de ódio.
Gravação Léo Lins: “Assim como no meu show, também tem avisos: Show de HUMOR, apresentação de stand up Comedy, obra teatral, ficção, você está entrando em um teatro, está no canal do humorista Léo Lins; mas parece que as pessoas perderam a capacidade de interpretar o óbvio”.
Tatiane: A frase, que parece apenas uma defesa pessoal, ecoa um discurso mais amplo, uma tentativa de deslegitimar qualquer responsabilização por falas públicas sob a acusação de que vivemos numa “ditadura do politicamente correto”.
Daniel: Tenho certeza de que você já ouviu falar neste termo. Nas últimas décadas, o termo “politicamente correto” tem aparecido constantemente no debate político, e no imaginário coletivo atual. Mas afinal, o que ele realmente significa?
[INSERT TRILHA]
Tatiane: Pra você que ainda não nos conhece, eu sou a Tatiane…
Daniel: E eu sou o Daniel. E esse é o Termos Ambíguos, o podcast que mergulha nas palavras e expressões que se tornaram comuns no debate público atual.
Tatiane: Este projeto é uma parceria entre o podcast Oxigênio, do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, e o Observatório de Sexualidade e Política, o SPW.
Daniel: A cada episódio, analisamos termos usados principalmente por vozes de ultra direita que recorrem a essas expressões para “tensionar, inverter e distorcer as disputas políticas”. Hoje, o termo é: politicamente correto.
Tatiane: Desde a primeira onda de propagação nos anos 2000, o termo politicamente correto se cristalizou como acusação pronta. No Brasil e em muitos outros países essa expressão é acionada para desqualificar as ditas “patrulhas que se opõem à Liberdade de expressão”, sendo invocado constantemente para defender ou justificar declarações que ofendem e agridem verbalmente pessoas negras, mulheres, pessoas LGBTQIA+, PCD’s e outras minorias.
Daniel: Por conta disso, nos últimos anos, o termo tem causado muitos embates, especialmente sobre os limites do humor, como no caso recente de Léo Lins.
Tatiane: Entretanto, é bom saber que o termo Politicamente Correto não é exatamente uma novidade. Já no século XVIII, nos Estados Unidos, o termo era usado para denotar visões e ações políticas e sociais consideradas “corretas e justas” .
Daniel: Mais tarde, no século XX, na União Soviética eram “Politicamente Corretas” as visões e ações que não se desviavam da “linha correta” do Partido Comunista.
Joana Plaza: “[…] como politicamente correto mudou de sentido ao longo do tempo.
Tatiane: Essa é Joana Plaza, professora do Departamento de Estudos Linguísticos e Literários, da Universidade Federal de Goiás.
Joana Plaza: […] já foi usado como uma categoria, de uma certa etiqueta do debate público, que buscasse então tanto dar visibilidade para determinadas identidades quanto colocar intenção em determinados status de poder.
Daniel: Por exemplo, nos Estados Unidos, nos anos 60, estudantes universitárias começaram a nomear atitudes e comportamentos, tais como machismo e racismo, como discursos ou gestos “politicamente incorretos”.
Tatiane: Ou seja, quando as muitas formas de manifestação do status superior ou maior poder das ditas “maiorias sociais”, que podem ser pessoas brancas, homens machistas, começou a ser questionada, surgiu a oposição política ao uso do termo.
Daniel: Nos Estados Unidos, à medida que forças conservadoras ganhavam relevância, e ao mesmo tempo que se ampliavam as demandas feministas, mobilizações antiracistas e pelos direitos LGBTQIAP+, esse repúdio continuou crescendo. A partir da década de 90 o Politicamente Correto começaria a ser debatido nas universidades e em artigos acadêmicos.
Tatiane: Quando o debate chegou ao Brasil, no artigo Ruídos no diálogo político, publicado em 2023 no site do Instituto Humanitas Unisinos, o antropólogo Luiz Eduardo Soares, argumentou que essa repulsa estava diretamente ligada à misoginia, ao racismo e à homofobia presentes nas raízes da sociedade brasileira.
Joana Plaza: Essa expressão foi uma das primeiras, provavelmente porque já lá na década de 90 você começa a ouvir gente usando negativamente o termo. Porque essa é uma maneira de disputar a linguagem [..]
Daniel: Linguagem. Este é o nó da questão!
Joana Plaza: Dizer que a linguagem pode ser usada a favor de ações diferentes do que ela inicialmente tinha sido usada não é nenhuma novidade, porque a linguagem é esse campo de ação, e esse campo de disputa.
Daniel: Mas por que a linguagem é disputada? Qual o poder que ela tem e onde ela se encaixa na discussão sobre o Politicamente Correto?
Tatiane: A professora Anna Bentes é doutora em Linguística e professora do Departamento de Linguística da Unicamp vai nos dizer como linguagem e politicamente correto se entrelaçam.
Anna Bentes: Quando você fala de politicamente correto, você está falando de categorização social. Então, a nossa reflexão sobre a linguagem sempre vai recair sobre o modo como a gente categoriza os outros. O politicamente correto é pensado muito para a garantia das relações sociais dentro de certos padrões fundamentalmente, o politicamente correto foi inventado, entre aspas, para tentar regular as relações sociais na direção de maior empatia social. Ele está na perspectiva da sociedade, quando você quer que essa sociedade se comporte de maneira a evitar, elaborar, por meio da linguagem, um conjunto de preconceitos. A linguagem exibe esses preconceitos de forma muito explícita.
Daniel: Em 2004, com ambição de enfrentar a questão da violência e do preconceito inscritos na linguagem, o governo federal, por meio da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, lançou a publicação “Politicamente Correto e Direitos Humanos”. No exercício compilava palavras e expressões correntes, buscando explicar por que elas eram ofensivas e deviam ser evitadas.
Tatiane: Os próprios organizadores da publicação assumiram publicamente que o título era provocador, justificando essa escolha pela urgência de dar visibilidade ao problema.
Daniel: Num contexto em que o repúdio ao “politicamente correto” ganhava força entre setores mais à direita e já circulava amplamente nas primeiras redes sociais, a reação foi imediata. A publicação ficou conhecida como “cartilha do politicamente correto”, sendo ridicularizada e criticada como um “manual” típico de um governo de esquerda. Desde então, sedimentou-se a analogia entre “politicamente correto” e “censura esquerdista” ou “violação injustificável da liberdade de expressão”.
Nana Soares: Foi mais ou menos em dois mil e nove, dois mil e dez, que a gente sedimentou a polarização esquerda e direita, pelo menos nesse campo, em que ficou muito nítido que quem usava o politicamente correto como acusação era de direita, se dizia de direita ou, no mínimo, se dizia contra a esquerda e uma suposta ditadura da esquerda, e encontrou no politicamente correto uma ferramenta para conseguir enquadrar essa crítica e conseguir defender o seu suposto direito absoluto de falar o que quisesse.
Tatiane: Essa que fala agora é a Nana Soares. Ela é jornalista e pesquisadora com foco em gênero e sexualidade e foi autora do verbete “Politicamente Correto” do Pequeno Dicionário.
Nana Soares: Os críticos do politicamente correto sempre o colocam em oposição à liberdade. O politicamente correto é a censura em oposição à liberdade de expressão. Como a liberdade vem sendo enquadrada hoje, eu tenho direito. Como se fosse um direito absoluto. Eu tenho o direito de falar o que eu quiser. É uma isenção de responsabilidade. E se eu não vou ser punido por isso, eu posso falar o que eu quiser contra quem eu quiser e errado é censura. É policialesco dizer que eu estou me excedendo que eu não posso falar o que eu quero, então é sempre enquadrado nos termos da censura como uma isenção de responsabilidade ou como liberdade total. No processo de pesquisa para o dicionário, a gente viu isso, as palavras que eram mais associadas, pelo menos quando ele era mencionado no Congresso, eram: patrulha, censura, ditadura, cancelamento ainda não tinha tanto, mas é sempre nesses termos e isso já estava no nível de Congresso, então isso já estava no nível de política institucional.
Esse é um debate que, no Brasil, acabou sendo muito enquadrado nesses termos e que têm tudo a ver com o papel da linguagem de novo, porque quando essas pessoas eram que esses humoristas, eram questionados…
Tatiane: Como no caso do Léo Lins…
Nana Soares: Em geral, tinha a resposta de “mas é só uma piada”, então, assim é como se minimizasse a linguagem, como se a linguagem apenas reproduzisse e não criasse sentidos e reforçasse opressões, não nada.
Tatiane: É importante ressaltar que o Politicamente Correto é também questionado pelo campo progressista. Afinal, será que mudar a lingua
Para celebrar os 10 anos do Podcast Oxigênio, tivemos a ideia de fazer episódios em parceria com outros podcasts. Este projeto começou com a parceria que fizemos com o podcast Café Com Ciência e neste episódio será com o podcast Vozes Diamantinas, uma produção do curso de Jornalismo do Campus XXIII da UNEB em Seabra, do estado da Bahia, que visa divulgar os saberes e as práticas culturais da Chapada Diamantina. Ao longo de 2025, teremos muitas parcerias boas, as próximas serão com os podcasts Vida de Jornalista, Fronteiras da Ciência e Ecoa Maloca.
Neste episódio especial vamos explorar como os hábitos alimentares brasileiros refletem nossa cultura, história, identidade e resistência. A alimentação será apresentada não apenas como fonte de nutrição, mas como prática cultural viva, carregada de significados, afetos e histórias.
Você vai ouvir relatos afetivos com a comida, como da Elizete Pereira, moradora da comunidade quilombola do Tejuco, em Brumadinho, Minas Gerais e da Larah Camargo, que nasceu em São Paulo, mas carrega a cultura alimentar das suas raízes familiares da Bahia, região da Chapada Diamantina. E vai escutar, também, entrevistas com especialistas, professores universitários, secretário de agricultura da cidade de Novo Horizonte e coordenadora-geral e coautora dos processos pedagógicos do Instituto Comida e Cultura. Eles irão abordar a formação da culinária brasileira, a partir das influências indígenas, africanas e portuguesas; a gastronomia territorial como uma forma de resistência e cuidado com a terra, com destaque para o papel das mulheres nas comunidades tradicionais da região da Chapada Diamantina; e a importância da educação alimentar desde a infância, como uma forma de reconexão com a terra e valorização cultural.
Neste episódio procuramos evocar a cozinha como espaço de encontro e resistência, reforçando a importância da recuperação de narrativas alimentares como forma de preservar a memória coletiva e a diversidade cultural brasileira.
Roteiro
[BG]
Lidia: “A farinha é feita de uma planta
Da família das euforbiáceas
De nome manihot utilíssima
Que um tio meu apelidou de macaxeira
E foi aí que todo mundo achou melhor” (Farinha, Djavan)
Lívia: Você já parou pra pensar que a mandioca é um dos alimentos mais representativos da culinária brasileira, é um dos mais versáteis também.
Lucas: A diversidade já aparece desde o seu nome.
Lívia: Aqui no sudeste nós chamamos de mandioca.
Lucas: Já aqui no nordeste e em algumas regiões do norte de “macaxeira” ou “aipim”.
Lívia: Mandioca, macaxeira, aipim, castelinha, uaipi, mandioca-doce, mandioca-mansa, maniva, maniveira, pão-de-pobre, diferentes nomes e diferentes preparos, pra um ingrediente coringa da alimentação na mesa de todas as regiões do país.
Lucas: Nativa do Brasil, com a mandioca dá para fazer farinha, polvilho doce e azedo, fécula, goma, tucupi, tapioca e muito mais.
Lívia: E, pra degustar esse alimento típico do nosso país, e que é cultivado pelos indígenas desde antes da colonização portuguesa, você não precisa lembrar que a mandioca faz parte da família botânica das euforbiáceas e que seu nome científico é “Manihot utilíssima”, como o Djavan cantou na música “Farinha”, que a gente ouviu os primeiros versos lá no começo.
Lívia: Mas, caso tenha ficado a curiosidade, ela é “prima” da mamona, da seringueira, coroa-de-cristo – todas liberam aquela seiva leitosa de seus caules. Inclusive, a mandioca era classificada como ‘Manihot utilíssima’, mas hoje, o nome científico adotado é ‘Manihot esculenta’.
Lucas: Devidamente apresentada, nós destacamos sua importância como uma das grandes representantes do tanto de diversidade de plantas e alimentos que nós temos aqui no Brasil. Diferentes nomes, diferentes preparos e uma gama de possibilidades para uma alimentação saudável, popular e afetiva.
[Vinheta]
Lívia: Eu sou a Lívia Mendes, sou linguista e especialista em Jornalismo Científico pelo Labjor, e você já conhece aqui do Oxigênio.
Lucas: E eu sou Lucas Assumpção, estudante de Jornalismo da UNEB Seabra, na Chapada Diamantina, Bahia.
Lívia: Neste episódio, nós do Oxigênio.
Lucas: E nós do Vozes Diamantinas, queremos te convidar a refletir sobre como os nossos hábitos alimentares contam histórias, que revelam muito mais do que apenas escolhas de nutrição, elas falam também de cultura, memória e identidade.
Lívia: Lembrando que esse episódio é ainda mais especial, porque faz parte das comemorações dos 10 anos do Oxigênio Podcast. Em 2025, teremos muitas parcerias boas. Além desta com o Podcast Vozes Diamantinas, da Universidade Estadual da Bahia, nós já fizemos um episódio com o Café Com Ciência, da UNESP e as próximas serão com o Vida de Jornalista, com o Fronteiras da Ciência e com o Ecoa Maloca.
Lucas: Quem sabe teremos mais algum, não é?
Lidia: “Assim como a língua falada, o sistema alimentar contém e transporta a cultura de quem a pratica, é depositário das tradições e da identidade de um grupo” (Massimo Montanari, Comida como cultura).
Lucas: Formada por diferentes saberes, a cultura alimentar de um povo é um traço importante de pertencimento. Por meio da comida, transmitimos nossos valores econômicos, sociais, religiosos, étnicos e tantos outros.
Lívia: Tradições culinárias são patrimônios culturais valorosos, eles nos trazem memórias afetivas que são passadas de geração em geração.
Lucas: Como escreveu o folclorista e historiador brasileiro, Câmara Cascudo, no livro A História da Alimentação no Brasil: “é inútil pensar que o alimento contenha apenas os elementos indispensáveis à nutrição”.
Lívia: Os alimentos contêm muito mais do que isso.
Lucas: Eles possuem “substâncias imponderáveis e decisivas para o espírito, alegria, disposição criadora e o bom humor”.
Lívia: São essas “substâncias imponderáveis” que carregam cultura, história e tradição.
Julie Cavignac: Cascudo, na sua História da Alimentação, destaca a questão da alimentação portuguesa, o aporte português, do aporte indígena e do aporte africano. Essa questão dos hábitos alimentares, esses diferentes povos vão se misturar em alguns momentos, com o devir dessa história do Brasil.
Lívia: Essa que você ouviu é a professora Julie Cavignac, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela explicou pra gente que o historiador Câmara Cascudo analisou as contribuições que o cardápio indígena, a dieta africana e a ementa portuguesa tiveram na construção do sistema culinário popular brasileiro.
Lucas: Assim como a Língua Portuguesa falada no Brasil tem diferentes variedades de sotaques e de vocabulários e se constituiu da junção de influências indígenas, africanas e portuguesas, também a nossa culinária foi construída a partir dessas três culturas distintas.
Julie Cavignac: Seria, na verdade, essa síntese, entre essas diferentes tradições: portuguesa, indígena e africana, que daria esse paladar tão específico aos brasileiros.
Lívia: Além dessa camada histórica, Câmara Cascudo apresenta como um ato natural, que é o de se alimentar, pois sem os nutrientes da alimentação a gente não consegue sobreviver, foi transformado por nós em uma cerimônia, com expressões sociais e com rituais.
Lucas: Pensando sobre isso, o historiador fez a distinção entre “comida” e “refeição”.
Lívia: A “comida” é esse ato informal de nutrição, do cotidiano.
Lucas: E a “refeição” a ação coletiva, carregada de significado, comunitária e ritualizada.
[música de transição]
Larah Camargo: Eu cresci em São Paulo, mas minha avó, minha mãe, minhas tias, todo mundo, baiano. Tenho memórias muito claras de receitas muito tradicionais de lá, que sempre fizeram parte da nossa alimentação, dos nossos momentos de confraternização, como a ambrosia, acho que a ambrosia que a minha avó faz é o um exemplo que mais me vem fresco na memória, um doce à base de ovo, português.
Lívia: Essa é a Larah, uma amiga querida que estudou comigo no Labjor e enviou esse relato da vivência familiar que ela teve com a culinária da região da chapada diamantina. A Larah nasceu na cidade de São Paulo, mas toda sua família é do estado da Bahia, da cidade de Itaberaba. Os pais e os tios da Larah migraram pra São Paulo, nos anos 1970, e trouxeram com eles as tradições culinárias da região do nordeste.
Larah Camargo: As próprias farinhas. O cuscuz que vem da farinha do milho, as farinhas de mandioca que não tem comparação, também sempre muito presentes em todas as refeições. A farinha de puba que é a massa da mandioca fermentada, também um bolo que minha mãe sempre fez e que tá presente aí na minha memória. E a gente também passa a se conectar a partir dessa comida que eu começo a conhecer e que algumas eu também já conheci e já estavam nessa tradição familiar. É, e com certeza, esses momentos em família fortaleceram esses laços. A minha família é muito conectada à alimentação, à comida.
Lucas: Os relatos da Larah nos fazem lembrar como a alimentação faz parte da história que nos constitui: ela carrega histórias, fortalece identidades e conecta o presente às nossas raízes.
Lívia: As lembranças e as histórias de família, que são relacionadas à comida, fazem parte do entendimento de quem somos. Quando lembramos de nomes e sabores de pratos típicos ou modos de preparo e receitas que participamos quando éramos crianças ou jovens e que podem e devem ser transmitidos de geração em geração.
[Sons de feira livre com vendedores anunciando bananas]
Lívia: A Chapada Diamantina, a região de onde veio a família da Larah, fica no interior da Bahia. Um território que encanta por suas belezas naturais e potencialidades gastronômicas.
Lucas: Todo alimento que nutre é importante, mas para os chapadenses alguns pratos típicos como o Godó de banana, a farofa de garimpeiro e o cortado de banana dizem tanto do território quanto das montanhas que o formam.
Lívia: Por exemplo, o fruto da bananeira, com um grande potencial nutritivo, é base para diversas iguarias gastronômicas, como doces, vitaminas e salgados. Na região da Chapada o fruto adquiriu uma característica de ser sus
A demanda por escolas bilíngues cresceu e se diversificou no Brasil nos últimos anos. Há diferentes modelos, com diferentes faixas de preço. A propaganda dessas escolas reforça a aprendizagem contextualizada de um novo idioma como um diferencial.
Neste episódio, Mayra Trinca e Marco Centurion exploram o tema, tentando desvendar se o investimento vale a pela ou não. Para isso, participam do programa Ingrid Finger, pesquisadora de bilinguismo e cognição, Miqueli Michetti, socióloga, e Yasmin Faiad, que foi aluna de uma escola bilíngue.
________________________________________
ROTEIRO
MAYRA: Se você procurar por “escolas bilíngues no Brasil” no google, vai ver diversas manchetes como:
LÍVIA: “Procura por modelo de ensino bilíngue ultrapassa 60% no Brasil”; Escolas bilíngues e internacionais no Brasil cobram mensalidades de até R$ 12 mil; saiba como funcionam”; ou “Escolas bilíngues disparam no Brasil”.
MARCO: Dá pra perceber que o modelo vem crescendo e ganhando espaço nas famílias com maior poder aquisitivo. Se você é responsável por alguma criança e tem uma folguinha financeira, é bem possível que já tenha se perguntado se vale a pena investir nesses espaços e nesse tipo de ensino.
MAYRA: Se você tá numa situação dessa, ou se interessa pelo assunto, esse episódio é sobre isso: escolas bilíngues. Vamos contar o que é necessário pra uma escola ser chamada de bilíngue, quais as vantagens (e desvantagens) e filosofamos um pouco sobre as influências sociais e culturais no meio disso tudo. Eu sou a Mayra Trinca.
MARCO: E eu, o Marco Centurion. E, apesar de tratarmos do tema como escolas bilíngues, o foco principal é nas escolas que utilizam o idioma inglês como a língua estrangeira. Há poucas escolas que adotam outras línguas no Brasil; inclusive línguas originárias.
YASMIN: Meu nome é Yasmin, eu tenho 19 anos e no meu ensino fundamental eu passei por uma escola bilíngue. Foram 5 anos nessa escola e depois disso, no meu ensino médio eu entrei para uma escola regular, sem ser bilíngue. E agora eu comecei a fazer faculdade.
MAYRA: Essa que você ouviu foi a Yasmin. Ela foi aluna do Marco alguns anos atrás. Eu e o Marco nos conhecemos no curso de especialização em jornalismo científico aqui do Labjor. Eu sou bióloga e o Marco, físico.
MARCO: Coincidentemente, nós dois já trabalhamos como professores de ciência em escolas bilíngues, onde eu dei aula pra Yasmin.
MAYRA: Hoje, nem eu nem o Marco estamos mais nesse meio. Mas desde que eu saí da escola, eu fiquei com vontade de investigar sobre o ensino bilíngue porque algumas coisas no modelo da escola que eu trabalhei me incomodavam. Aí chamei o Marco pra colaborar comigo nessa pauta.
MARCO: Desde as nossas primeiras conversas sobre o tema deste episódio, notamos mais uma coincidência: os nossos incômodos eram bastantes similares. Tocavam desde aspectos cognitivos, culturais, sociais e, claro, pedagógicos.
MAYRA: E a partir disso, o Marco pensou que a gente podia falar com a Yasmin pra saber um pouco mais da perspectiva dela como aluna.
YASMIN: O meu processo no ensino fundamental, numa escola bilíngue, foi muito interessante para mim e eu sinto os efeitos dele até hoje. Então, no meu trabalho, nos meus estudos, eu percebo como foi uma coisa muito importante e que eu fui muito sortuda de ter tido essa oportunidade de ter esse contato com o inglês desde pequena.
MARCO: Mas antes da gente continuar com a experiência da Yasmin, acho importante a gente definir aqui o que é uma escola bilíngue. Faremos isso com a ajuda da Ingrid Finger.
INGRID: No Brasil a gente tem escolas bilingües, com currículo bilingüe.
MARCO: Que são as escolas onde as crianças têm aulas de matérias específicas, como ciências, matemática ou geografia em inglês. Com isso, a língua é explorada em mais contextos e fica mais integrada no currículo.
INGRID: Então, a escola bilíngue é a escola que possui um currículo integrado no qual os conteúdos e as habilidades são desenvolvidas nas duas línguas do currículo. Mas a gente também tem um número grande de escolas que têm o que a gente tem chamado de programa bilingüe.
MAYRA: Que é uma escola regular que oferece carga horária estendida na língua adicional. Essas horas variam muito, tem escola que oferece 5 horas a mais na semana, tem escola que oferece 10, e por aí vai.
INGRID: O que é o formato mais comum no Brasil? Um número maior do que o previsto na legislação de carga horária na língua adicional. Então, a escola às vezes tem 5 horas na língua adicional, mas o que o professor de inglês faz, ele faz separado do que é feito no resto da escola, não existe essa integração.
MARCO: Faltou a gente dizer quem é a Ingrid Finger.
INGRID: Sou professora titular do Departamento de Línguas Modernas com vínculo permanente ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu faço pesquisa na área de bilinguismo e cognição, educação bilíngue, biliteracia, processamento bilíngue. Já há um bocado de tempo, desde 2006, eu coordeno um laboratório de pesquisa que se chama Labico, Laboratório de Bilinguismo e Cognição na UFRGS.
MAYRA: A gente convidou a Ingrid pra participar desse episódio pra ajudar a gente a entender a ciência envolvida na aprendizagem bilíngue. E também pra contar como saber falar duas ou mais línguas afeta diversas áreas na nossa vida.
MARCO: Beleza, todas apresentadas, vamos continuar!
YASMIN: Antes de entrar para essa escola bilíngue, eu estudava numa escola normal, assim. Então, eu percebi como as matérias também eram focadas no idioma, focadas no inglês. A gente tinha ELA, que eram os estudos em inglês, tudo em inglês. A gente tinha matemática em inglês.
MAYRA: De início, a gente pode achar que estudar outras matérias em inglês é só uma forma de aplicar a língua em mais contextos como uma forma de ganhar vocabulário, de conseguir se expressar sobre diversos temas em outra língua, que não a materna. Mas a Ingrid explicou que é mais do que isso:
INGRID: Aqui a gente está pensando não só na proficiência de habilidades comunicativas de dizer que foi ao cinema no final de semana e qual é o sabor favorito de sorvete, a gente tá falando no desenvolvimento de habilidades de raciocínio na língua, né? Então a gente tá falando de a criança ser capaz de relatar eventos históricos, porque ela aprendeu história e ela é capaz de fazer um raciocínio histórico ou, né, conteúdo de biologia ou raciocínio matemático, que é um bom exemplo nas duas línguas. Uma coisa é a criança saber contar até 100, né? E dizer quantos anos tem. Outra coisa, ela é ser capaz de resolver um problema matemático e elaborar uma equação matemática na língua adicional. Essas habilidades são habilidades acadêmicas, que só podem ser desenvolvidas através de uma integração curricular.
MARCO: É justamente essa capacidade de raciocinar academicamente e realizar conexões com o mundo cotidiano numa língua adicional que diferencia um currículo bilíngue do simples ganho de vocabulário em outro idioma. Como a Ingrid reforça:
INGRID: Existem muitos modos de formar sujeitos bilíngues. Mas se a gente tá pensando num indivíduo bilíngue que é capaz de articular conteúdos acadêmicos na língua adicional. Isso só se dá através de um currículo bilíngue.
MAYRA: E se o currículo bilíngue é essencial para desenvolver essas habilidades acadêmicas em uma língua diferente, isso também levanta uma questão fundamental e que é o grande gargalo do ensino bilíngue segundo a Ingrid.
MARCO: A gente não tem formação de professores para essa tarefa. Pois não basta dominar o idioma, é preciso entender como a língua e o conteúdo se integram no processo de aprendizagem. E isso tem a ver com a forma como nosso cérebro armazena o conteúdo disciplinar junto com a nova língua.
INGRID: Porque tu não aprendeu assim. Quando a gente aprende alguma coisa a gente aprende o conteúdo, mas armazena também a língua na qual a gente aprendeu. A gente armazena toda a experiência de aprendizagem, né? A gente armazena a emoção que vivenciou quando a gente viveu aquela aprendizagem, né? Então isso tudo tá armazenado junto e se tu aprendeu o conteúdo numa língua vai ser muito mais fácil falar naquela língua sobre esse conteúdo.
MAYRA: Essa era uma das coisas que eu tinha mais dificuldade quando dava aulas em inglês. Eu sei o conteúdo e eu sei falar inglês, mas nunca soava natural. Sempre parecia que tinha alguma coisa fora do lugar. E pra algumas matérias, isso pode ser ainda mais complicado.
MARCO: O que a Ingrid comentou se encaixa perfeitamente com a matemática, porque algumas operações, como por exemplo na divisão, a posição dos números na conta fica invertida em comparação com o que a gente faz no Brasil.
YASMIN: Mas aí tem a parte negativa, que foi o susto mesmo, sabe? O ensino que eu tive no fundamental parece que foi muito mais focado nas escolas do exterior. Então, os materiais que a gente tinha não eram materiais brasileiros, eram materiais de fora. E eu percebi que isso, nossa, me afetou muito.
MAYRA: Yasmin aqui de novo. Ela tava contando pra gente justamente como esse jeito diferente de fazer as coisas acabou dificultando um pouco a vida dela quando ela chegou no ensino médio em uma escola tradicional.
YASMIN: Mas o que acontece, nos estudos, foi muito difícil eu me acostumar, porque apareciam coisas pra mim que eu não tinha visto. Eu vi, de outra forma, do jeito que eles veem lá no Canadá. Então, assim, eu diria que, de certa forma, foi muito difícil me adaptar novamente, né? E também por ser inglês, os ensinos que eu tive em Science, o ELA, eu sinto que eu não consegui me adaptar ao português deles depois, que eu fui vendo ao longo dos três anos de ensino médio, né? Que eram coisas que eu talvez precisasse ter focado um pouco mais, porque as provas do vestibular não… não são canadenses, né?
MARCO: Aí a gente chega num outro ponto importante, e que também incomodava a gente em sala de aula. Nessa escola, metade das matérias eram dadas em português e a outra metade, em inglês.
MAYRA: P
Decrescimento econômico? Será isso mesmo? Em um mundo onde a busca pelo aumento do Produto Interno Bruto (PIB) parece ser a única meta, é importante questionar se essa lógica realmente atende às necessidades humanas e ambientais. Neste episódio, o Oxigênio vai explorar o conceito de decrescimento econômico, uma proposta que desafia a ideia de que mais sempre é melhor, e nos apresenta alternativas para repensar a nossa relação com o consumo, a natureza e a sociedade. A partir de entrevistas realizadas com as pesquisadoras Juliana Vicentini e Sabine Pompeia, dos professores Luiz Marques e Paulo Wolf e da profissional de comunicação Cristina Pens, a equipe de egressos do curso de Jornalismo Científico nos conta o que está por trás dessa ideia e como ela pode nos ajudar a construir um mundo mais equilibrado e consciente.
________________________________________
Roteiro
Maria Vitória: Imagine um mundo em que todas as pessoas têm maior qualidade de vida, em que há igualdade social, as pessoas precisam trabalhar menos. Um mundo no qual o ser humano vive em paz e onde a natureza é preservada. Parece utópico? Impossível? Algo que nunca aconteceria?
Marcos Ferreira: Agora, imagine um outro mundo, no qual temos a capacidade de produzir mercadorias em níveis recorde. Entretanto, nesse mundo de enorme produtividade, a desigualdade só aumenta. Esse cenário parece distópico, mas ele é a realidade em que nós estamos vivendo.
Maria Vitória: A pesquisa realizada pelo Instituto Tecnologia e Sociedade concluiu que metade dos brasileiros está muito preocupada com o meio ambiente e quase 70% deles acreditam que o aquecimento global pode prejudicar muito as suas vidas. Embora haja essa inquietude coletiva, estamos imersos em um modelo econômico que cria demandas de consumo, que visa o lucro, que degrada o meio ambiente, e é socialmente injusto. Mas será que essa lógica faz sentido?
Marcos Ferreira: Fomos ensinados que a única maneira para um país ou para a economia se desenvolverem é crescendo. Só que o crescimento da economia significa produzir mais. E, para produzir mais, é preciso explorar mais ainda o meio ambiente. Será que crescer de tal maneira é a única opção? Será que não existe uma outra forma de desenvolvimento? Ou mesmo, será que existem saídas para as atuais crises globais?
Maria Vitória: Eu sou a Maria Vitória.
Marcos: E eu sou o Marcos Ferreira, e juntos vamos explorar o contraste entre o capitalismo praticado hoje em dia e o movimento político, social e econômico chamado de decrescimento.
Para embasar essa conversa e desvendar algumas das questões relacionadas ao capitalismo, convidamos o Paulo José W. Wolf, que é professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Paulo, quais são as premissas do capitalismo e como elas se relacionam com o crescimento econômico?
Paulo Wolf: Eu diria que o capitalismo é um sistema de organização da vida social que é movido em última instância pela busca do ganho privado. O neoliberalismo, por sua vez, é uma forma de funcionamento desse sistema de organização da vida social. O neoliberalismo se baseia em um entendimento sobre como esse sistema funciona e quais são as suas consequências. Segundo esse entendimento, a busca do ganho privado leva como que por uma “mão invisível” ao ganho social. Então, nesse sentido, todos vão ter o suficiente para si e para os seus, desde que se esforcem para isso. Nesse contexto, na visão do neoliberalismo, há pouco espaço para a intervenção do Estado via políticas públicas.
Então, num capitalismo neoliberal, a gente tem o capitalismo agindo de acordo com a sua própria lógica. A intervenção do Estado é muito reduzida. Entretanto, penso eu, essa é uma visão equivocada. A busca do ganho privado não leva necessariamente ao ganho social. O que a gente vê, na prática, é justamente o contrário. Esse sistema capitalista é pródigo, antes de tudo, em privar, em excluir, em segregar, em discriminar, em destruir. Então, nesse contexto, a intervenção do Estado via políticas públicas é fundamental para assegurar que todas as pessoas tenham condições de atender suas necessidades fundamentais e viver uma vida digna.
Marcos: O que é o Produto Interno Bruto, o PIB, e porque muitos economistas dizem que ele sempre precisa crescer? E como o capitalismo é associado ao PIB?
Paulo Wolf: Consolidou-se o entendimento de que o progresso no capitalismo, ele pode ser medido pela produção de bens e serviços e é justamente isso o que o PIB mostra. O PIB, ele é o valor de todos os bens e serviços produzidos em um determinado país, em um determinado momento. Dessa forma, quanto maior for o PIB, maior a produção de bens e serviços e, consequentemente, nesse entendimento, maior é o progresso no capitalismo. Logo, quanto maior o PIB, maior a produção de bens e serviços, maior o progresso do capitalismo. Por isso que alguns economistas dizem que ele precisa crescer porque se ele estiver crescendo, essa é uma medida de que um país está progredindo.
Marcos: Outra consequência desse sistema econômico atual é que ele destrói a natureza. E quem falará sobre isso conosco, hoje, é Luiz Marques. Ele é professor aposentado e pesquisador colaborador do Departamento de História da Unicamp. Ele publicou diversos livros e artigos sobre as relações entre o capitalismo e o colapso ambiental. Luiz, se tivesse que definir quão grave é a emergência socioambiental e climática que estamos vivenciando hoje, o que diria?
Luiz Marques: Bom, em poucas palavras, o que nós podemos dizer é que nós temos, efetivamente, uma emergência global, que é da ordem de um desastre planetário e que inclui, ao meu ver, três grandes dossiês: a questão do sistema climático, a questão do colapso da biodiversidade, a meu ver a aniquilação da biodiversidade, e o problema da poluição. E esses três grandes dossiês estão muito fortemente interrelacionados e agem sinergicamente, ou seja, eles se reforçam reciprocamente. Há formas de mensurar esses três grandes dossiês. Um deles é aquilo que o Potsdam Institute for Climate Impact Research tem proposto, que é, então, os nove limites planetários, que são colocados em três níveis: um nível de segurança, um nível de risco crescente e um nível de risco seguro. E desses nove limites planetários, ou fronteiras planetárias, foram propostos em 2009, em 2009 havia três limites ultrapassados, depois em 2015 havia quatro limites ultrapassados e agora, recentemente em 2023, estamos falando de seis ou sete limites ultrapassados. O único deles que foi mantido, que foi considerado um sucesso, foi a contenção do assim chamado buraco na camada de ozônio. Os demais estão claramente em degradação.
Maria Vitória: Quais são os principais fatores que levaram a essa situação?
Luiz Marques: Bom, basicamente nós vivemos uma civilização que se caracteriza por dois traços inaugurais ou fundadores. O primeiro é o fato de que nós dependemos muito fortemente da queima de combustíveis fósseis. Há uma diferença brutal entre, de um lado, aquilo, que nós éramos antes da queima de combustíveis fósseis em grande escala. A produtividade do trabalho era basicamente a mesma no século 18 e no século 1. E a segunda questão é que a descoberta, de como manipular essa molécula, hidrocarboneto, nos levou à possibilidade de uma expansão contínua. Isso já estava inscrito no modo expansivo da sociedade ocidental desde o século 16, mas a conjunção exatamente desse modo expansivo com a possibilidade de potenciar em várias ordens de grandeza a nossa produção e consumo de energia levou a uma sociedade, uma civilização que nós podemos chamar expansivo e termo fóssil. Ela é ao mesmo tempo expansiva e ela pode ser expansiva exatamente porque ela tem uma reserva de energia muito grande ainda possível de ser explorada. A grande questão é que isso esbarra exatamente com as possibilidades do próprio planeta. Até meados do século 20, isso não era uma evidência. Era apenas uma evidência nos círculos mais restritos, digamos assim, da ciência. A partir dos anos 70 e 80, quando há uma última onda de globalização, nós percebemos claramente que a gente entrou num processo de contradição cada vez mais antagônica entre o modo de funcionamento da civilização e a capacidade que o sistema Terra tem de permanecer estável dentro desse modo.
Marcos: É, parece que não dá para a economia apenas expandir e crescer sem parar, porque ela depende de recursos naturais, que são finitos. Esses podem ser compreendidos justamente como limites planetários, e nós já estamos ultrapassando alguns desses limites.
Para saber mais sobre o contexto Brasileiro, conversamos também com a pesquisadora Juliana Vicentini, doutora em Ecologia Aplicada pela Universidade de São Paulo, a USP, que nos contou um pouquinho de como esse modelo predatório tem ocorrido na prática.
Juliana Vicentini: Podemos pensar criticamente sobre a insustentabilidade deste crescimento sem limites a partir de um setor específico, o agronegócio. O agronegócio produz commodities que são produtos básicos não industrializados relacionados à agricultura e à pecuária, a exemplo da soja (seja em grão, farelo ou óleo), milho, carne e minérios. O Brasil figura-se como um dos países que mais produz e exporta commodities e que importa produtos industrializados, ou seja, estamos inseridos no mercado internacional em uma condição, diria, subalterna. Os custos ambientais desse modelo de produção ficam no Brasil, e olha que não são poucos. Em virtude de uma demanda de commodities exponencial em todo o mundo, nos últimos 30 anos houve uma redução de 33% de áreas nativas no Brasil. Elas deram lugar à expansão da fronteira agrícola, sobretudo, nos biomas Cerrado e Amazônia. A fragmentação, degradação e desmatamento da floresta geram redução ou extinção da biodiversidade, assoreamento de corpos d´água, erosão e contaminação do solo, emissão de gases de efeito estufa, afetam a temperatura e o regime de chuvas. O uso intenso de substâncias químicas como agrotóxicos e fertilizantes utilizados para
Um dos graves problemas da área da saúde é encontrar alternativas para tratar doenças causadas por bactérias. Neste episódio vamos entender como a fagoterapia, terapia à base de fagos, que são vírus, pode ser uma solução. Para ajudar a destrinchar como esse tratamento funciona, Bianca Bosso e Eduarda Moreira conversaram com as pesquisadoras Layla Farage Martins, do CEPID B3 e Silvia Figueiredo Costa, chefe do laboratório de Bacteriologia no Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, a USP.
_______________________________
BIANCA BOSSO: Os antibióticos são uma das ferramentas mais usadas contra as doenças causadas por bactérias, como infecções na pele, no sistema respiratório ou mesmo em casos graves de sepse hospitalar.
EDUARDA MOREIRA: Mas o papel desses medicamentos tem sido desafiado por um processo chamado “resistência bacteriana”, que é quando microrganismos, como as bactérias, se tornam capazes de sobreviver e se reproduzir mesmo na presença dos antibióticos.
BIANCA: Em um cenário preocupante, onde cada vez mais bactérias estão se tornando resistentes, a atenção de médicos, biólogos e outros profissionais da saúde tem se voltado para uma alternativa antiga, mas que ficou de lado por bastante tempo no ocidente: os fagos e a fagoterapia.
EDUARDA: Eu sou Eduarda Moreira.
BIANCA:Eu sou Bianca Bosso.
EDUARDA: E neste episódio conversamos com Layla Farage Martins, bióloga e especialista de laboratório no Centro de Pesquisa em Biologia de Bactérias e Bacteriófagos, o CEPID B3, e com Silvia Figueiredo Costa, médica, professora e chefe do laboratório de Bacteriologia no Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, a USP.
LAYLA: A fagoterapia é uma terapia em que você utiliza os fagos para tratar doenças, infecções bacterianas.
BIANCA: Esta foi a Layla. Os fagos, ou bacteriófagos, citados por ela, são uma categoria específica de vírus que têm a capacidade de reconhecer e infectar bactérias.
LAYLA: Eles não têm um metabolismo próprio e eles dependem de outras células para poder se reproduzir. No caso dos fagos, eles dependem das células bacterianas. Então, eles só infectam e se reproduzem dentro de células bacterianas.
EDUARDA: Os fagos estão presentes em uma variedade imensa de ambientes, como o solo, a água e o ar.
Diferentes espécies infectam uma grande diversidade de bactérias e, como explica Silvia, alguns vivem, inclusive, dentro de nossos corpos, mas eles não causam nenhuma doença. Pelo menos não costumam causar.
LAYLA: Eles são as entidades mais abundantes do planeta. Onde tem bactéria, tem, necessariamente, fagos. E nós somos revestidos por bactérias, por fora e por dentro.
SILVIA: O fago, apesar de ser um vírus, ele vai agir só contra aquela bactéria e aquela bactéria que está causando aquela infecção.
Então não tem nenhum dos outros sintomas que uma infecção viral costuma causar.
SILVIA: Atualmente, a gente consegue fazer esse estudo por meio de biologia molecular, a gente consegue identificar fagos presentes também na nossa própria microbiota do trato gastrointestinal, também trabalhos de microbiota vaginal, né, da vagina.
BIANCA: Durante o processo de infecção e reprodução, o vírus bacteriófago injeta seu material genético dentro das bactérias, utiliza os mecanismos celulares ali disponíveis para se multiplicar e prejudica a sobrevivência da bactéria.
Em alguns casos, a bactéria é completamente destruída para que o vírus conclua seu ciclo e consiga se espalhar no organismo do hospedeiro.
EDUARDA: Por conta desse mecanismo, os bacteriófagos, nome que vêm do grego e pode ser traduzido como “comedores de bactérias”, são considerados agentes antimicrobianos, ou seja, com potencial de inibir ou eliminar bactérias, assim como os antibióticos.
BIANCA: Uma boa notícia para a área da saúde é que é possível aproveitar a capacidade desses vírus – que, afinal, não comem as bactérias – no desenvolvimento de novos tratamentos. A Layla explica:
LAYLA: A fagoterapia traz algumas vantagens em detrimento aos antibióticos. Uma delas é que os fagos são extremamente específicos contra a bactéria que está sendo tratada.
A vantagem disso é que ele não vai afetar bactérias benéficas à microbiota. Ele só vai afetar aquelas bactérias ou a bactéria que está causando a doença.
Além disso, ele tem uma propriedade que é de se propagar no local onde tem essa bactéria alvo. Então ele é capaz de aumentar o título, a concentração dele naquele local, impedindo que a bactéria se espalhe e que a doença aumente.
Enquanto o antibiótico pode perder a atividade dele ao longo do tempo.
EDUARDA: Embora seja um consenso científico que os vírus e, consequentemente, os bacteriófagos, não são seres vivos, eles têm capacidade de evoluir e se adaptar às mudanças de seus inimigos. Essa característica garante mais um benefício para aplicar essas entidades biológicas no combate às bactérias.
LAYLA: Existe o que a gente fala em inglês “Arms Race”, ou a corrida armamentista microbiológica, que as bactérias, elas sofrem mutações ao longo da propagação delas e algumas podem se tornar resistentes aos antibióticos, por exemplo, isso é uma das causas da resistência bacteriana quando é usado muito antibiótico.
Com tratamento com fagos acontece a mesma coisa. Algumas bactérias naturalmente vão ser resistentes por apresentar algumas mutações que impedem tanto a ligação do fago à bactéria quanto a propagação dele internamente nessa bactéria.
E essas bactérias resistentes escapam, então, a essa matança causada tanto por antibióticos quanto por fagos.
Só que os fagos também evoluem, porque ao longo da propagação eles também vão sofrendo mutações, e, com isso, eles podem chegar num ponto de começar a enxergar e infectar, serem capazes de infectar as bactérias resistentes.
Então, tem essa corrida armamentista que é uma evolução tanto da bactéria quanto por parte dos fagos, e os fagos têm a propriedade de mutar numa taxa muito mais rápida do que as bactérias.
BIANCA: Enquanto a atuação específica e as altas taxas de evolução dos vírus são dois dos maiores destaques da fagoterapia, a versatilidade de aplicações e a baixa toxicidade também são pontos promissores.
EDUARDA: Plantas, humanos e outros animais podem ser tratados com essa ferramenta em diversas situações. Por exemplo queimaduras, infecções urinárias e até mesmo como suporte para fortalecer e modificar a microbiota, ou seja, o conjunto de microrganismos que vivem naturalmente em nossos corpos.
BIANCA: No Brasil, até agora, a fagoterapia ainda é alvo somente de estudos teóricos e não é usada como tratamento padrão para nenhuma doença. No entanto, o cenário já é diferente em alguns países além-mar, como a Rússia.
LAYLA: Os fagos foram descobertos em 1896. Na verdade, o pesquisador era o Ernest Rankin, o inglês. Ele estava fazendo estudos com outras bactérias e outras doenças, por exemplo, com cólera na Índia. E ele viu a primeira evidência de lise bacteriana em rios, no Ganges e no Juna. No Rio Juna e no Rio Ganges.
Ele observava que pessoas que se banhavam nesses rios não contraíam a cólera.
Ele achou estranho, então ele testou em um laboratório que tinha nesses rios, que protegia essas pessoas de desinteria. E aí ele viu que a água pega desses rios matava, causava a lise das bactérias.
Só que ele não fazia ideia do que era, e aí ele fez alguns testes científicos que não comprovavam a existência dos fagos, ou de que era um vírus.
EDUARDA: Somente mais de 20 anos depois, em 1917, o pesquisador franco-canadense Felix d’Herelle – e aqui, perdoem a minha pronúncia – identificou e nomeou os bacteriófagos. Isso aconteceu antes mesmo do primeiro antibiótico chegar às prateleiras. A penicilina só foi descoberta 11 anos depois, em 1928.
LAYLA: Ele teve contato com Jorge Eliava, que é um russo, que foi para o Instituto Pasteur, onde estava d’Herelle, e aprendeu a fagoterapia com ele, estudou os fagos com ele, ficou encantado, apaixonado. E viu naquilo uma grande possibilidade como tratamento antimicrobiano e levou isso de volta para Tbilisi, na Rússia.
E, inclusive, ele inaugurou, ele que instituiu o Instituto Eliava, ele foi o primeiro laboratório a focar em fagos e fagoterapia humana, que existe até hoje.
Tem mais de 100 anos que são usados fagos na Rússia.
Então, Depois da descoberta do antibiótico, houve uma segregação política e farmacológica, vamos dizer assim, entre o Ocidente e o Oriente. A Rússia recusava tudo que viesse do Ocidente. Então, ela manteve os tratamentos e as terapias antimicrobianas com a base de fagos, que existe até hoje.
BIANCA: Nas Américas, as primeiras pesquisas sobre bacteriófagos também datam do começo do século XX.
LAYLA: Então, na América Latina a gente tem um histórico bastante antigo de fagoterapia que data de 1919 pelo doutor José Costa Cruz, que era da Fiocruz.
Então, assim, ele abarcou a fagoterapia nessa época, que foi durante a 1ª Guerra Mundial na Europa.
EDUARDA: O Doutor Costa Cruz era um médico paraense que trabalhava na Fiocruz, e conheceu D’Herelle durante os estudos sobre fagos.
LAYLA: Ele foi para o Instituto Pasteur, ficou encantado com a fagoterapia e trouxe para o Brasil essa ideia, essa inovação para tratar disenterias bacterianas.
Tratou muita gente, principalmente durante a Revolução Paulista, em 1924.
BIANCA: Após os tempos de guerra, diferente do que aconteceu na Rússia, o Ocidente, incluindo o Brasil, optou por apostar nos antibióticos como principal arma na luta contra infecções bacterianas, e acabou deixando os bacteriófagos de lado por um longo tempo.
LAYLA: Você pensa que é muito mais difícil você formular um fago, que é uma entidade biológica e que tem propriedades diversas e muito específicas contra as bactérias que você queira tratar.
O antibiótico é amplo espectro. Então, ele mata tudo.
Porque, por um lado, tudo tem as suas vantagens e desvantagens. Você fica sem microbiota, tem vários processos alergênicos, tem vários outros efeitos colaterais que o fago não vai causar. Só que, por outro lado, em massa, tratar com antibióti
Este é o terceiro episódio da série Poluição Luminosa, que foi produzida por Marco Centurion. Neste episódio, Marco, que é físico e especialista em jornalismo científico, conta como as luzes artificiais cada vez mais intensas rompem o equilíbrio natural das noites, afetando diretamente a saúde humana, alterando o crescimento das plantas e desorientando espécies animais.
Os entrevistados do episódio são a Juliana Ribeirão de Freitas, bióloga e docente do Instituto Federal do Mato Grosso, e Raone dos Reis Mariano, biólogo e mestrando no Programa de Pós-graduação em Biotecnologia e Monitoramento Ambiental (PPGBMA) pela UFSCar – Sorocaba.
Esta série tem três episódios e foi produzida por Marco Centurion, como trabalho de conclusão do curso de Especialização em Jornalismo Científico, curso oferecido pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade, da Universidade Estadual de Campinas. O orientador do projeto foi Alfredo Luiz Suppia, colaborador do curso e professor do Instituto de Artes, da Unicamp.
__________________________________
Roteiro
[Abertura com a trilha “'Six Coffin Nails' by Kerosyn | Electronic Metal Music (No Copyright)]
Marco Centurion: As luzes artificiais cada vez mais intensas vêm rompendo o equilíbrio natural das noites, afetando diretamente a saúde humana, alterando o crescimento das plantas e desorientando espécies animais. Muito além de apagar as estrelas do céu, a poluição luminosa impacta profundamente os ciclos biológicos e nossa conexão com a natureza.
Raone dos Reis Mariano: Existem espécies de aves que fazem migração ainda à noite. Então a luz pode interferir no trajeto migratório dessas aves. Existem espécies de tartarugas que também sofrem com isso, principalmente quando eclodem dos ovinhos, estão saindo pela praia. Se houver ali uma iluminação e próximo da praia, isso pode direcionar a tartaruguinha ao invés de ir para o mar para sentir o continente, então acaba sendo predado ou até mesmo morrem aí por n questões, né?
Marco: Entender como o excesso de luz atrapalha diversos pontos da vida na Terra e as implicações de vivermos em um mundo onde as noites já não são verdadeiramente escuras, é só um ponto de partida. Outras instâncias da sociedade precisam começar a atuar ativamente na retenção da poluição luminosa.
Juliana Ribeirão de Freitas: Publiquei aí com o meu aluno um artigo em que a gente fez um levantamento, aí da questão legislativa com relação a com foco na biodiversidade no Brasil. E a gente encontrou ali um punhado de leis municipais e a maior parte delas focada na questão da observação astronômica, né, e que acaba tendo algum impacto na biodiversidade. Um impacto benéfico, claro. Mas não é esse o foco, né?
Marco: Meu nome é Marco Centurion e neste episódio trataremos de como a poluição luminosa é taciturna em suas consequências nos seres vivos.
Alterações comportamentais na vida selvagem, influenciadas pela iluminação artificial inadequada, já são assunto dentro da comunidade científica, especificamente os biólogos, já há uns bons anos. Taxas de reprodução, migração, crescimento e até mesmo extinção entre de espécies, vêm sendo observadas de perto em ambientes em que antes havia uma demarcação precisa em padrões de dia e noite. Juliana Ribeirão é bióloga e docente do Instituto Federal do Mato Grosso. Juliana, que possui publicações justamente acerca dos impactos da poluição luminosa e preservação da biodiversidade, ressalta que poucos anos sob os efeitos dessa luz não natural, não são suficientes para que haja alguma adaptação no modo de vida dos animais.
Juliana Ribeirão de Freitas: Na verdade, a poluição luminosa como um todo, é qualquer alteração dos níveis de iluminação artificial, seja em quantidade, ou seja em intensidade ou em tipo, um tipo de onda de luz que está sendo emitida. E como a gente tem a vida na Terra, todas as formas de vida na Terra, desde que surgiu, ela vem evoluindo ao longo do tempo, com ciclos.
São ciclos de claro e escuro, ciclo de 24 horas de claro e escuro, ciclos mensais da Lua que tem uma parcela de iluminação também, né? E então a gente vem evoluindo nesse padrão, e aí de repente digo de repente porque a gente está falando aí numa escala de milhões de anos, e aí, de repente, no último século, a gente tem uma alteração brusca desses padrões, né? E isso vai ter impactos em vários níveis biológicos. Tem registro de impacto genético, fisiológico, comportamental, no sucesso reprodutivo das espécies porque não conseguem acasalar. No caso dos vagalumes, esse é um problema. Eles não conseguem se encontrar para acasalar. E aí tem um problema do sucesso reprodutivo, né, que leva à extinção da espécie, pode levar à extinção da espécie. E pode haver alterações, por exemplo, de densidade populacional, alteração dos padrões migratórios, né? Tudo isso tá, são impactos, né? Que as alterações da iluminação podem causar na biodiversidade.
Marco: O biólogo Raone dos Reis, em concordância com Juliana, destaca também os aspectos evolutivos de uma ampla diversidade de espécies animais, que são afetados pelas mudanças ambientais provocadas pelas atividades humanas.
Raone dos Reis: Os trabalhos, assim mais conhecidos, os trabalhos mais robustos que se tem na literatura, eles estão muito voltados a tanto as tartarugas. Muitos trabalhos também estão direcionados às aves. É muito em função dos aspectos migratórios que algumas dessas aves fazem. Continuam a sua migração mesmo à noite. Com relação a outros animais que possam ter algum tipo de problema com a iluminação artificial, eu arriscaria dizer que todos! Eu arriscaria dizer que todos! Por exemplo, nós aqui na região de Sorocaba, a gente está bem próximo a região de Mata Atlântica. A gente está bem próximo a regiões de Cerrado também. E são ambientes de caça para onça. Tanto a onça parda, né? A suçuarana, quanto a onça pintada. E a gente sabe que o felino, ele tem hábitos totalmente noturnos, principalmente para caça, né? Ou crepuscular ou noturno. A gente sabe que os outros animais que dependem da caça fazem o uso dessa do ambiente escuro para poder se alimentar, né, Para poder realizar ali a caça. Então, a iluminação artificial, quando ela chega a esses ambientes mais próximos, com certeza vai causar um desequilíbrio, seja para animais pequenos como os vagalumes, como foi o meu objeto de estudo, como para esses animais maiores, que são os grandes animais bandeiras que nós temos aí, né? Quando falamos em questão de processo de preservação ambiental. Todos, ao meu ver, eu acredito que todos os animais que dependam de, fazem, né, Caça. E animais também que não são caçados. A iluminação vai prejudicar ele, e assim, diretamente? Sem sombra de dúvidas. Até mesmo porque a gente também tem. E todo. Todo ser vivo. E ele tem os seus momentos do seu dia, né? Que são o que a gente chama de ciclo circadiano. Então, qualquer tipo de alteração, qualquer tipo de coisa que não esteja no seu devido lugar vai trazer algum tipo de alteração.
Marco: Apesar da ampla gama de trabalhos já publicados sobre como a poluição luminosa afeta a vida selvagem, algumas consequências são difíceis de mapear, uma vez que a biodiversidade é bastante dinâmica em suas relações.
Juliana Ribeirão de Freitas: É são muitos trabalhos, são muitos contraditórios. Porque por um lado, a gente já tem. Eu digo que é contraditório porque já tem uma quantidade de trabalhos mostrando que há impactos. Isso é, são muitos assim. Mas ao mesmo tempo é um. Existe uma grande lacuna do conhecimento, porque a gente tem um volume de informações sobre esses impactos, mas a gente não consegue dizer ainda quais são as consequências desses impactos, e como uma coisa está atrelada a outra. Porque os ecossistemas, eles são e são baseados em uma rede de vários elos. Todas as coisas estão interconectadas. E aí, quando você altera um elo ali nessa cadeia que funciona, você altera todo o resto e prevê a consequência nos outros níveis é muito, é muito complicado. Então a gente tem, por exemplo, registros de alterações, acho que as tartarugas são os mais clássicos, né?
Porque as tartarugas, elas se guiam pela pelo reflexo da luz da lua no mar. Quando elas saem do ninho, nelas as as tartarugas, elas desovam sempre na mesma praia onde elas nasceram e aí enterram os ovos. Quando elas saem dos ovos, a mãe já não, já não está mais ali, ela nada em direção ao reflexo da lua que está no mar. E aí, o que acontece? O que há registros, né, do que tem acontecido? Ela não sabe muito bem onde é que tá a lua, né, porque quando você tem um ambiente natural que é totalmente escuro, você tem a lua ali. Muito, muito obviamente, né? E aí, se você tem uma orla que é toda iluminada, como é a maioria das orlas, né? Mas no Brasil eu publiquei um trabalho que mostra com dados como que o nosso litoral é muito mais iluminado do que o resto. E aí a tartaruga então vai ficar perdida, Não vai conseguir ir para o lugar onde ela tem que ir e que é o mar e eventualmente pode morrer de fome ou então vira presa fácil de predadores que inclusive esperam essas tartarugas, etc e tal.
[Vinheta: fade-in da faixa “Final Confrontation”]
Marco: Mencionado anteriormente por Raone, o ciclo, ou ritmo circadiano é a organização das funções biológicas de forma a se repetir a cada 24 horas. Como diz o nome CircaDiano, ou seja, “cerca de um dia”. O ser humano é um animal diurno e parte do nosso sistema endócrino, responsável pela geração e distribuição hormonal no corpo, depende da determinação adequada de ciclos de luz e escuridão. A melatonina, um hormônio que nós produzimos naturalmente, é um dos marcadores do ciclo circadiano.
Juliana Ribeirão de Freitas: A gente tem o hormônio melatonina, que agora tá até é uma palavra até da moda, né? Quando eu comecei a estudar essas questões, ninguém falava muito não da melatonina, mas agora virou uma palavra da moda. E acho que as pessoas estão tomando melatonina para conseguir dormir e tal. Não tinha. Quando eu comecei a estudar, não
Este é o segundo episódio da série Poluição Luminosa, que foi produzida por Marco Centurion. Neste episódio, Marco, que é físico e especialista em jornalismo científico, trata dos impactos que o excesso de luzes artificiais geram para a pesquisa em astronomia. Essa poluição interfere nos equipamentos e dificulta o trabalho de pesquisa de astrônomos, que precisam se instalar em lugares cada vez mais remotos para realizar a atividade de pesquisa.
Os entrevistados do episódio são Renato Cássio Poltronieri, presidente e fundador da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (BRAMON); Marcelo Zurita, presidente da associação paraibana de astronomia e coordenador do Asteroid Day Brasil e diretor técnico da BRAMON; e Cledison Marcos da Silva, também membro da Associação Americana de Observadores de Estrelas Variáveis.
Esta série tem três episódios e foi produzida por Marco Centurion, como trabalho de conclusão do curso de Especialização em Jornalismo Científico, curso oferecido pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade, da Universidade Estadual de Campinas. O orientador do projeto foi Alfredo Luiz Suppia, colaborador do curso e professor do Instituto de Artes, da Unicamp.
_______________________________
Roteiro
[trilha “’Six Coffin Nails’ by Kerosyn | Electronic Metal Music (No Copyright)”]
Marco Centurion: O avanço das luzes artificiais tornando as noites cada vez mais acesas, faz com que a pesquisa em astronomia observacional se torne um desafio crescente. A poluição luminosa não apenas apaga as estrelas do céu noturno, mas também interfere nos equipamentos e dificulta o trabalho de pesquisa de astrônomos, que precisam buscar locais cada vez mais remotos.
Renato Cássio Poltronieri: Essa alta poluição luminosa da lâmpada LED é diferente da lâmpada anterior. Eu venho notado na minha estação e alguns outros colegas, que ao adentrar a lâmpada LED, além de matar o céu, está cegando a câmera. O software continua… ele sabe que ele está posicionado. A câmera está travada naquela posição, na posição. Porém, mesmo com novas câmeras hoje em dia que nós estamos utilizando. A gente não vê mais as estrelas e a quantidade de meteoros registrados pelas câmeras caiu “barbarosamente”. Não caiu pouco não. Caiu muito, muito mesmo.
Marco: A pesquisa em astronomia, que será o foco deste episódio, se feita de maneira observacional, sofre muitos reveses com o crescimento de luzes urbanas que escapam para cima. Contudo, os riscos não se fecham somente na perda de dados científicos, o que por si só já é uma perda enorme, mas também podemos estar nos cegando a um problema muito maior.
Marcelo Zurita: Muitas vezes, a poluição luminosa, ela impede a realização de certas atividades, como, por exemplo, a busca por asteroides próximos à Terra. É praticamente impossível a gente fazer esse tipo de atividade em um local com poluição luminosa, porque os asteroides, né? Eles são os asteroides que a gente procura descobrir, são objetos muito tênues, então a gente não consegue exposição suficiente em ambientes com muita poluição luminosa. Então, isso impacta diretamente, inclusive é o trabalho de proteção planetária.
Marco: Meu nome é Marco Centurion e hoje falaremos de algumas iniciativas de ciência cidadã que tem suas atividades diretamente impactadas pelo avanço do mal uso da iluminação urbana.
A perda do céu noturno é um preço altíssimo a ser pago e a ciência é um dos atores da sociedade diretamente implicados. Para quem trabalha com a observação de estrelas variáveis, como os astrônomos da AAVSO – a Associação Americana de Observadores de Estrelas Variáveis –, a poluição luminosa é um dos maiores problemas, se não o principal.
Cledison Marcos: A AAVSO é uma associação bem antiga já. Ela não é a mais antiga, né? Tem uma na Inglaterra que é mais antiga que ela. Mas a AAVSO, ela é a maior instituição em relação a membros, número de membros e número de observações recebidas no banco de dados. A AAVSO foi fundada em 1911 porque os egípcios já sabiam que estrelas variavam. A própria Algol e eles tinham um cálculo bastante preciso do período dela. Claro, eles não sabiam a causa da variabilidade, mas sabiam que ela variava. Os aborígenes têm relatos de estrelas variáveis. Eles têm lendas sobre Antares, Betelgeuse, Aldebaran. Índios na Bolívia viram supernova. Os próprios aborígenes viram pessoal da Mesopotâmia, viu? Mas isso lá no passado, na nossa época, né? O primeiro registro de estrela Variável foi feito em 1572 pelo Ticho Brahe. 1596 o Davi Fabricius viu Mira a olho nu. Em 1604, o Johannes Kepler viu uma supernova também. Então perceberam que existia uma crença aristotélica que não estava fazendo tanto sentido. O céu não era perfeito, ele mudava, ele passava por alterações. Então começaram a investigar esses objetos e um certo número de estrelas variáveis foi descoberto ali no finalzinho do século XVI, século XVII até o século XVIII. No final do século, ali por volta de 1890, alguma coisa assim, finalzinho do século XIX, um alemão chamado Argelander começou a reunir um catálogo dessas estrelas e fazer algumas observações. Então, William Tyler Olcott, junto com outros americanos ali, eles decidiram criar uma instituição dedicada para o estudo de estrelas variáveis, onde pudessem reunir essas observações e disponibilizá-las de forma pública. Assim nasceu a AAVSO, né? Então, a grande maioria dos contribuidores desde 1911 são amadores. São pessoas que não têm astronomia como fonte de renda, não é? Não atua como profissional. Inclusive o próprio William Tyler Olcott era advogado e começaram a reunir essas observações e a instituição foi só crescendo. O próprio nome diz Associação americana.
Então, no começo era só ali nos Estados Unidos. Com o tempo, foram entrando outras pessoas e hoje acho que mais de 80 países, né? Tem, AAVSO tem membros ali e recebendo observações, inclusive entre 18 a 20 brasileiros enviando observações, né? Tem muitos brasileiros como observadores. Não são membros, né? Mas estão ali enviando as observações, sim. Então, a AAVSO, ela continua com o mesmo objetivo, que é reunir observações de estrelas variáveis de diferentes tipos, qualquer, qualquer tipo de estrela variável, qualquer tipo de cadência, qualquer tipo de período, etc. E também servir como hospedeira desses dados para que possíveis pesquisadores, sejam eles profissionais ou amadores, possam recolher esses dados através de download, publicar seus artigos e claro, dar crédito aos, as pessoas que contribuem, né? Então a gente vê pessoas que observam a olho nu com seus dados, servindo para estudos publicados em revistas fora do país. A gente vê pessoas que observam visualmente ali, com telescópio, binóculo também contribuindo. E a gente sabe que as observações são usadas porque a AAVSO nos avisa, né? Todo domingo a gente recebe um e-mail dela com as observações baixadas ali nos últimos sete dias e não a pessoa que baixou, né? Mas a gente sabe se é um professor, se é um estudante, se é um profissional, se é um amador. Aí fica a cargo do pesquisador nos avisar se ele pretende nos oferecer a coautoria ou se ele quer que a gente seja pelo menos listado ali nos agradecimentos, o que acontece na grande maioria das vezes. Então, a AAVSO, ela é uma instituição que une observadores de estrelas variáveis e também reúne essas essas observações para fins científicos, e educacionais, né? Já que um dos objetivos também da associação é passar a ciência de estrelas variáveis, a astronomia de estrelas variáveis adiante, atraindo mais observadores.
Marco: Conforme salientado pelo físico, pedagogo e astrônomo Cledison Marcos, a associação reúne observadores do mundo todo para monitorar o brilho e o comportamento de estrelas, algo essencial para entender fenômenos estelares e até mesmo para a busca por exoplanetas, que nada mais são que planetas que não estão contidos em nossos sistema solar. Mas a cada nova luz acesa nas cidades que ilumina para cima, uma parte do céu fica mais difícil de ser observada. O brilho excessivo oculta estrelas tênues e prejudica a precisão das observações. A AAVSO e outras entidades têm se empenhado para conscientizar sobre a necessidade de proteger o céu noturno, incentivando o uso de iluminação eficiente que reduzam o impacto da poluição luminosa. Cledison ressalta que, uma vez que o céu perde o seu brilho, as pessoas passam a buscar por outras formas de observação ou simplesmente, o interesse pelo estudo do espaço sideral.
Cledison Marcos: Ninguém vai querer olhar para algo e não ver algo, né? Então, um céu sem estrelas, ele não é atrativo. Você sabe que a estrela está ali, mas você não está vendo ela justamente por causa da luz parasita, né? Isso pode tirar um pouco do interesse da pessoa para a parte observacional e essa pessoa acabar se aventurando aí por outros meios, seja por meios digitais, etc, projetos na internet, o que é muito válido, claro. E a pessoa acaba indo para esse meio digital da astronomia e acaba perdendo o interesse na astronomia observacional, né? Que também, claro, tem muito valor. Eu acredito que é completamente prejudicial esse ponto. Assim, menos estrelas no céu, menos gente olhando para ver as estrelas.
Vinheta: fade-in da faixa “Final Confrontation”.
Marco: Não somente as estrelas são apagadas com a iluminação parasita que escapa para o espaço, mas outros fenômenos também perdem a sua graça. Antigamente se falava muito mais sobre fazer pedidos às estrelas cadentes. Essa brincadeira hoje não é tão difundida, pois talvez não seja mais tão fácil vê-las a olho nu. O que chamam comumente de estrelas cadentes são os meteoros, ou seja, fenômenos luminosos que ocorrem quando partículas de rocha e outros fragmentos espaciais entram em nossa atmosfera terrestre, que por um processo intenso de compressão dos gases em seu caminho em altíssimas velocidades, emitem a luz que fazem este fenômeno tão belo. Contudo, fragmentos menores, rendem meteoros menores, quase impossíveis de serem obse









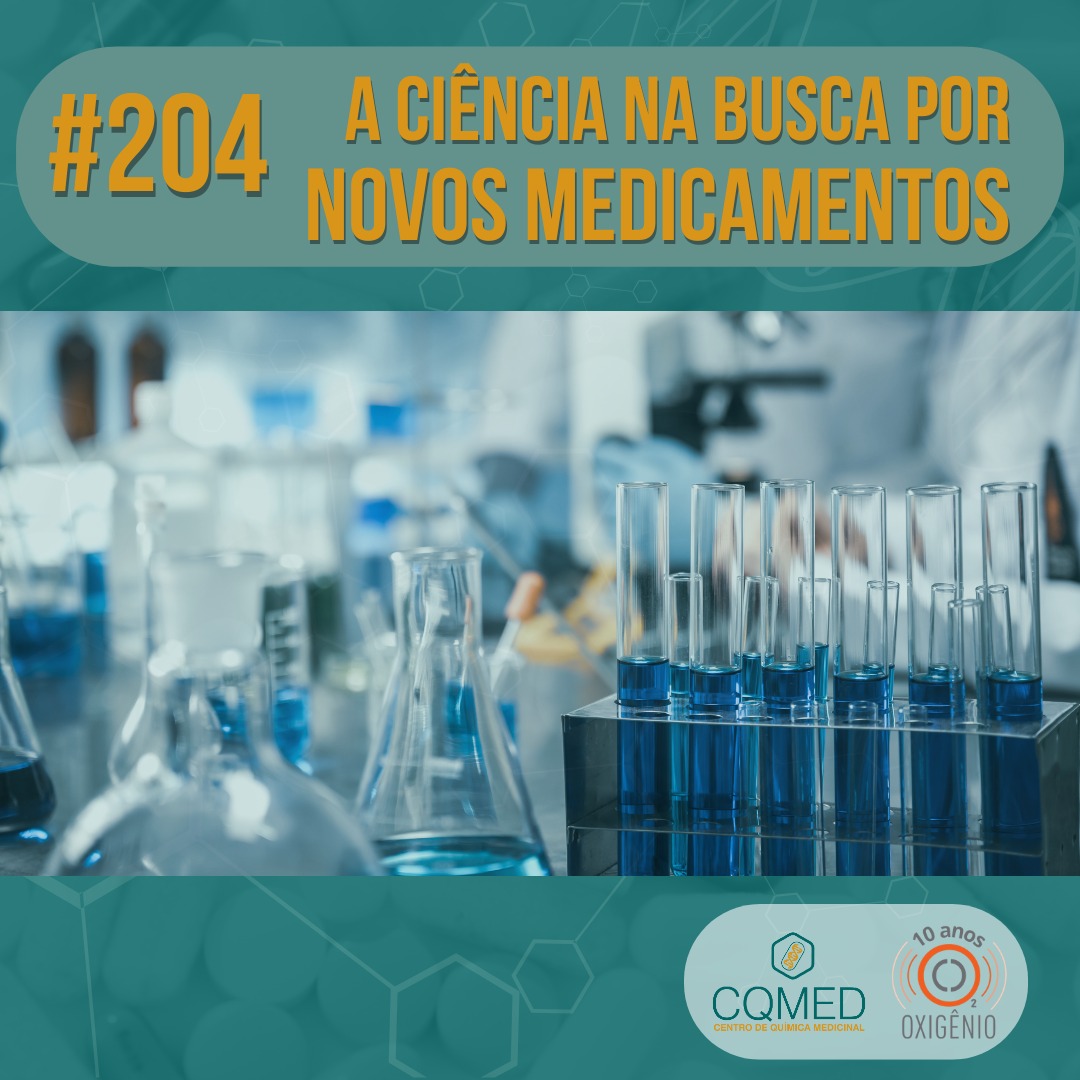






olá!! Eu sempre fui magrela e comprida o que sempre gerou a ideia de fragilidade e fraqueza para as pessoas. Mas, qdo levanto algum peso ou arrasto algum móvel pela casa as pessoas se surpreendem. Minha avó ficou um bom tempo dependente das pessoas, tínhamos que carrega- la para o banheiro, para a mesa do jantar... ela sempre me falava "vc é uma magrela fortona" pq eu era a única da casa que conseguia continuar equilibrada e firme mesmo qdo estava segurando ela pelo caminho enquanto que os grandalhões se atrapalhavam e até pediam para parar e reajustar no percurso. Força x Jeito x Biotipo físico...
Muito bom. Continuem com este trabalho importantíssimo para nós brasileiros.
o episódio passa por várias questões importantes do debate sobre gênero e ciência. excelente pauta! parabéns!
Parabéns pelo episódio. A falta de conhecimento em aplicações genéticas é muito alta. Parabéns.
ótimo tema! parabéns pela apuração, informações e fontes muito interessantes
Parabéns pelo tema desse podcast. Temos grandes problemas nas escolas relacionados com álcool e adolescente. Porém, quando um aluno usa álcool dentro de sua escola, ele deve ser punido sim.
Parabéns pelo áudio. Da gosto de ouvir.
Parabéns pelo episódio desse podcast. São informações importantes para quem tenta entender o Sistema Educacional no Brasil.
ficou muito bom esse formato! parabéns pela mudança e pela pauta :)
Parabéns pelo canal. Os assuntos estão sendo tratados de forma bem didática.
sou muito fã!