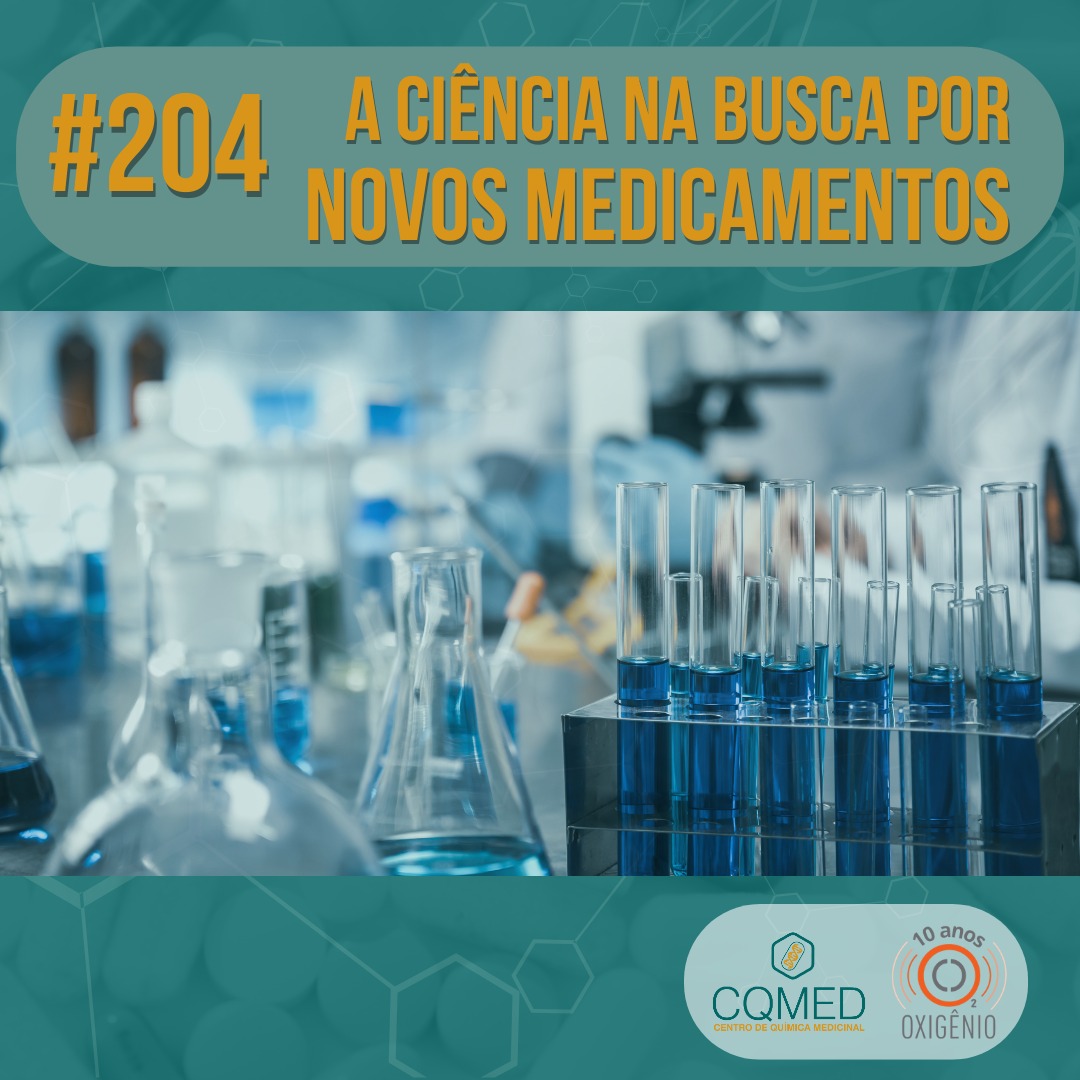#197 – Por dentro do decrescimento econômico
Description
Decrescimento econômico? Será isso mesmo? Em um mundo onde a busca pelo aumento do Produto Interno Bruto (PIB) parece ser a única meta, é importante questionar se essa lógica realmente atende às necessidades humanas e ambientais. Neste episódio, o Oxigênio vai explorar o conceito de decrescimento econômico, uma proposta que desafia a ideia de que mais sempre é melhor, e nos apresenta alternativas para repensar a nossa relação com o consumo, a natureza e a sociedade. A partir de entrevistas realizadas com as pesquisadoras Juliana Vicentini e Sabine Pompeia, dos professores Luiz Marques e Paulo Wolf e da profissional de comunicação Cristina Pens, a equipe de egressos do curso de Jornalismo Científico nos conta o que está por trás dessa ideia e como ela pode nos ajudar a construir um mundo mais equilibrado e consciente.
________________________________________
Roteiro
Maria Vitória: Imagine um mundo em que todas as pessoas têm maior qualidade de vida, em que há igualdade social, as pessoas precisam trabalhar menos. Um mundo no qual o ser humano vive em paz e onde a natureza é preservada. Parece utópico? Impossível? Algo que nunca aconteceria?
Marcos Ferreira: Agora, imagine um outro mundo, no qual temos a capacidade de produzir mercadorias em níveis recorde. Entretanto, nesse mundo de enorme produtividade, a desigualdade só aumenta. Esse cenário parece distópico, mas ele é a realidade em que nós estamos vivendo.
Maria Vitória: A pesquisa realizada pelo Instituto Tecnologia e Sociedade concluiu que metade dos brasileiros está muito preocupada com o meio ambiente e quase 70% deles acreditam que o aquecimento global pode prejudicar muito as suas vidas. Embora haja essa inquietude coletiva, estamos imersos em um modelo econômico que cria demandas de consumo, que visa o lucro, que degrada o meio ambiente, e é socialmente injusto. Mas será que essa lógica faz sentido?
Marcos Ferreira: Fomos ensinados que a única maneira para um país ou para a economia se desenvolverem é crescendo. Só que o crescimento da economia significa produzir mais. E, para produzir mais, é preciso explorar mais ainda o meio ambiente. Será que crescer de tal maneira é a única opção? Será que não existe uma outra forma de desenvolvimento? Ou mesmo, será que existem saídas para as atuais crises globais?
Maria Vitória: Eu sou a Maria Vitória.
Marcos: E eu sou o Marcos Ferreira, e juntos vamos explorar o contraste entre o capitalismo praticado hoje em dia e o movimento político, social e econômico chamado de decrescimento.
Para embasar essa conversa e desvendar algumas das questões relacionadas ao capitalismo, convidamos o Paulo José W. Wolf, que é professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Paulo, quais são as premissas do capitalismo e como elas se relacionam com o crescimento econômico?
Paulo Wolf: Eu diria que o capitalismo é um sistema de organização da vida social que é movido em última instância pela busca do ganho privado. O neoliberalismo, por sua vez, é uma forma de funcionamento desse sistema de organização da vida social. O neoliberalismo se baseia em um entendimento sobre como esse sistema funciona e quais são as suas consequências. Segundo esse entendimento, a busca do ganho privado leva como que por uma “mão invisível” ao ganho social. Então, nesse sentido, todos vão ter o suficiente para si e para os seus, desde que se esforcem para isso. Nesse contexto, na visão do neoliberalismo, há pouco espaço para a intervenção do Estado via políticas públicas.
Então, num capitalismo neoliberal, a gente tem o capitalismo agindo de acordo com a sua própria lógica. A intervenção do Estado é muito reduzida. Entretanto, penso eu, essa é uma visão equivocada. A busca do ganho privado não leva necessariamente ao ganho social. O que a gente vê, na prática, é justamente o contrário. Esse sistema capitalista é pródigo, antes de tudo, em privar, em excluir, em segregar, em discriminar, em destruir. Então, nesse contexto, a intervenção do Estado via políticas públicas é fundamental para assegurar que todas as pessoas tenham condições de atender suas necessidades fundamentais e viver uma vida digna.
Marcos: O que é o Produto Interno Bruto, o PIB, e porque muitos economistas dizem que ele sempre precisa crescer? E como o capitalismo é associado ao PIB?
Paulo Wolf: Consolidou-se o entendimento de que o progresso no capitalismo, ele pode ser medido pela produção de bens e serviços e é justamente isso o que o PIB mostra. O PIB, ele é o valor de todos os bens e serviços produzidos em um determinado país, em um determinado momento. Dessa forma, quanto maior for o PIB, maior a produção de bens e serviços e, consequentemente, nesse entendimento, maior é o progresso no capitalismo. Logo, quanto maior o PIB, maior a produção de bens e serviços, maior o progresso do capitalismo. Por isso que alguns economistas dizem que ele precisa crescer porque se ele estiver crescendo, essa é uma medida de que um país está progredindo.
Marcos: Outra consequência desse sistema econômico atual é que ele destrói a natureza. E quem falará sobre isso conosco, hoje, é Luiz Marques. Ele é professor aposentado e pesquisador colaborador do Departamento de História da Unicamp. Ele publicou diversos livros e artigos sobre as relações entre o capitalismo e o colapso ambiental. Luiz, se tivesse que definir quão grave é a emergência socioambiental e climática que estamos vivenciando hoje, o que diria?
Luiz Marques: Bom, em poucas palavras, o que nós podemos dizer é que nós temos, efetivamente, uma emergência global, que é da ordem de um desastre planetário e que inclui, ao meu ver, três grandes dossiês: a questão do sistema climático, a questão do colapso da biodiversidade, a meu ver a aniquilação da biodiversidade, e o problema da poluição. E esses três grandes dossiês estão muito fortemente interrelacionados e agem sinergicamente, ou seja, eles se reforçam reciprocamente. Há formas de mensurar esses três grandes dossiês. Um deles é aquilo que o Potsdam Institute for Climate Impact Research tem proposto, que é, então, os nove limites planetários, que são colocados em três níveis: um nível de segurança, um nível de risco crescente e um nível de risco seguro. E desses nove limites planetários, ou fronteiras planetárias, foram propostos em 2009, em 2009 havia três limites ultrapassados, depois em 2015 havia quatro limites ultrapassados e agora, recentemente em 2023, estamos falando de seis ou sete limites ultrapassados. O único deles que foi mantido, que foi considerado um sucesso, foi a contenção do assim chamado buraco na camada de ozônio. Os demais estão claramente em degradação.
Maria Vitória: Quais são os principais fatores que levaram a essa situação?
Luiz Marques: Bom, basicamente nós vivemos uma civilização que se caracteriza por dois traços inaugurais ou fundadores. O primeiro é o fato de que nós dependemos muito fortemente da queima de combustíveis fósseis. Há uma diferença brutal entre, de um lado, aquilo, que nós éramos antes da queima de combustíveis fósseis em grande escala. A produtividade do trabalho era basicamente a mesma no século 18 e no século 1. E a segunda questão é que a descoberta, de como manipular essa molécula, hidrocarboneto, nos levou à possibilidade de uma expansão contínua. Isso já estava inscrito no modo expansivo da sociedade ocidental desde o século 16, mas a conjunção exatamente desse modo expansivo com a possibilidade de potenciar em várias ordens de grandeza a nossa produção e consumo de energia levou a uma sociedade, uma civilização que nós podemos chamar expansivo e termo fóssil. Ela é ao mesmo tempo expansiva e ela pode ser expansiva exatamente porque ela tem uma reserva de energia muito grande ainda possível de ser explorada. A grande questão é que isso esbarra exatamente com as possibilidades do próprio planeta. Até meados do século 20, isso não era uma evidência. Era apenas uma evidência nos círculos mais restritos, digamos assim, da ciência. A partir dos anos 70 e 80, quando há uma última onda de globalização, nós percebemos claramente que a gente entrou num processo de contradição cada vez mais antagônica entre o modo de funcionamento da civilização e a capacidade que o sistema Terra tem de permanecer estável dentro desse modo.
Marcos: É, parece que não dá para a economia apenas expandir e crescer sem parar, porque ela depende de recursos naturais, que são finitos. Esses podem ser compreendidos justamente como limites planetários, e nós já estamos ultrapassando alguns desses limites.
Para saber mais sobre o contexto Brasileiro, conversamos também com a pesquisadora Juliana Vicentini, doutora em Ecologia Aplicada pela Universidade de São Paulo, a USP, que nos contou um pouquinho de como esse modelo predatório tem ocorrido na prática.
Juliana Vicentini: Podemos pensar criticamente sobre a insustentabilidade deste crescimento sem limites a partir de um setor específico, o agronegócio. O agronegócio produz commodities que são produtos básicos não industrializados relacionados à agricultura e à pecuária, a exemplo da soja (seja em grão, farelo ou óleo), milho, carne e minérios. O Brasil figura-se como um dos países que mais produz e exporta commodities e que importa produtos industrializados, ou seja, estamos inseridos no mercado internacional em uma condição, diria, subalterna. Os custos ambientais desse modelo de produção ficam no Brasil, e olha que não são poucos. Em virtude de uma demanda de commodities exponencial em todo o mundo, nos últimos 30 anos houve uma redução de 33% de áreas nativas no Brasil. Elas