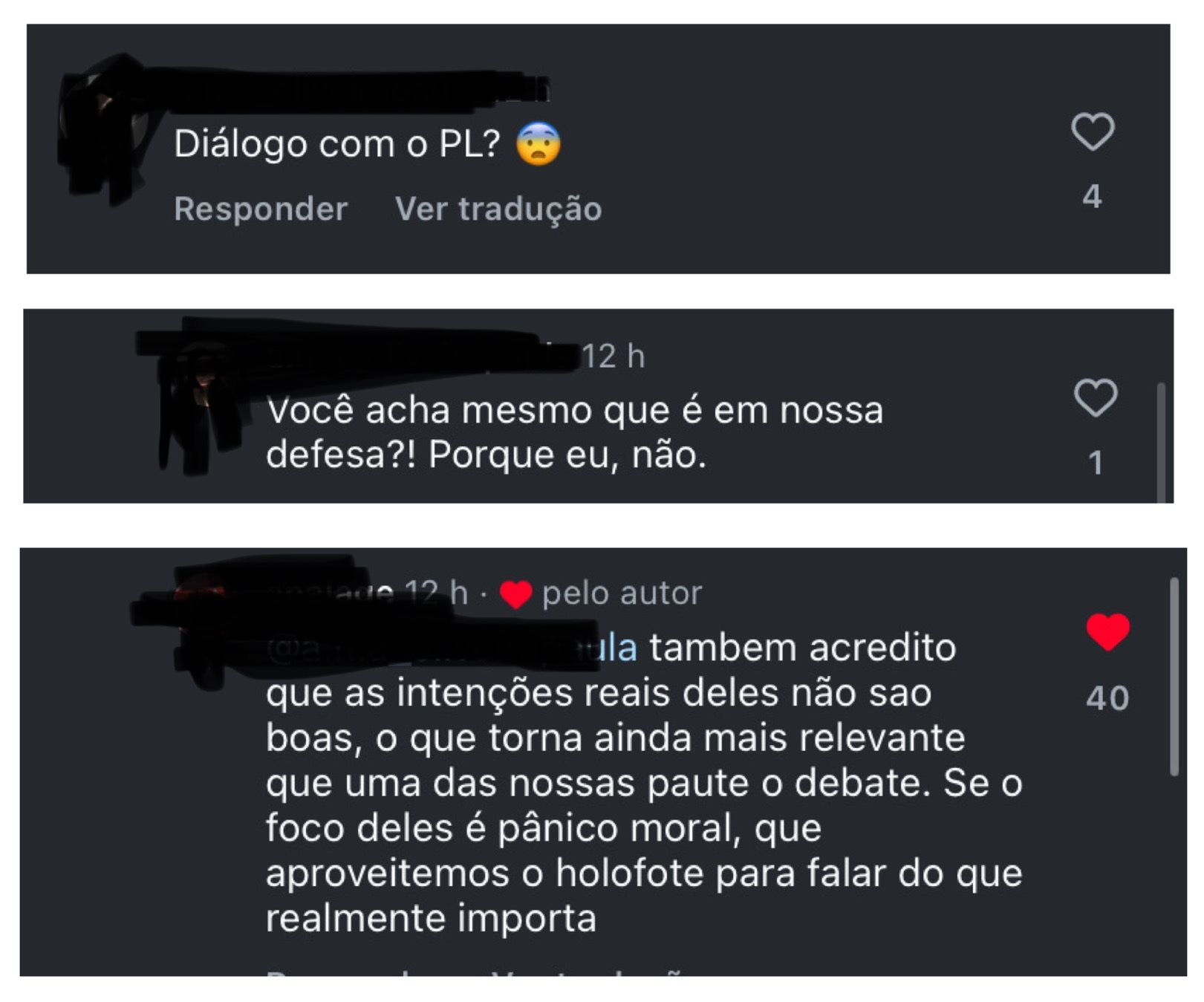liberalismo woke e luta de classes em Rojava
Description
Essa semana, fui convidada pela Celina Lazzari para compartilhar um pouco do que aprendi nos últimos anos sobre a luta das mulheres curdas e a revolução de Rojava no Fronteira Vermelha. Como é raro eu negar qualquer oportunidade de espalhar a palavra, lá fomos nós.
Nosso papo passou por vários pontos: separatismo político e a importância de espaços exclusivos para mulheres se organizarem, definirem seus objetivos e estratégias de luta; matar o macho dominante e a fêmea submissa; sobre construir alternativas e abrir mão do Estado, a dificuldade de construir uma sociedade radicalmente diferente sem referências reais nas quais se apoiar, e sobre todas as contradições que surgem nesse processo, o que aponta para a necessidade de sermos menos idealistas e reconhecermos que tudo o que mais detestamos do “sistema” está, em alguma medida, em nós e “nos nossos”, resultando em uma série de dificuldades e problemas para organização coletiva e até mesmo para o comunalismo; o compromisso histórico dos curdos com sua libertação enquanto povo e a força e resistência que surge desse processo, o que torna os guerrilheiros e guerrilheiras grandes vitoriosos a despeito de lutarem contra um dos maiores exércitos da OTAN.
Nós também passamos pelas críticas de Abdullah Öcalan e das mulheres curdas à academização e liberalização do movimento feminista — e da própria esquerda — no Ocidente, o que nos levou para a o identitarismo woke, o criacionismo pós-moderno e o avanço do outro lado da moeda, o conservadorismo anti-feminista.
Para que seja possível fazer mais textos, entrevistas, reportagens e podcasts de forma realmente autônoma aqui no lado b é preciso recursos financeiros. Se você gosta do conteúdo, considere apoiar com uma assinatura mensal, anual ou como membro fundador.
Para quem quiser continuar navegando pela temática, trombei com alguns textos interessantes essa semana sobre o tema, a começar com o How Does One Become Woke? A autora conta sobre sua amizade com uma menina da classe alta que há alguns anos ocupa um cargo importante como crítica cultural no The New York Times e é grande promotora da agenda de gênero. Essa amiga, que ela chama de D., se formou em Berkley e foi aluna de Judith Butler e, até Trump, não se interessava por nenhum tipo de movimento político, menos ainda para o mundo não Ocidental. A autora, por sua vez, é de uma família de classe trabalhadora e cresceu na Romênia soviética, de onde saiu em 1991 como refugiada política.
O que eu acho particularmente triste e está escancarado nesse relato é o fato dele reafirmar o que é ridiculamente nítido: estamos falando de um grupo de sujeitos ensimesmados do Norte global, que respiram todas as referências de um país imperialista, que não passam de um grupo de sujeitos interessados em manterem seu capital social e muito pouco preocupados com a realidade material objetiva das mulheres, da classe trabalhadora e das “colônias”. No entanto, as “colônias” os defendem de forma tão furiosa que estão dispostas a sacrificar qualquer coisa por suas “ideias brilhantes”.
Esses sujeitos não estão preocupados em libertar nada nem ninguém. Eles detêm cargos importantes e distribuem esses cargos entre os seus, visando manter seus privilégios de classe, inclusive por meio da própria filosofia. A sua superioridade moral e seu senso de direito é tamanho que eles chamam qualquer um que discorde de suas ideias de fascistas, se tornando grandes negacionistas científicos quando a Ciência não ratifica sua ideologia. É por isso que a única liberdade de expressão que importa é a deles porque suas ideias são as ideias verdadeiras, corretas. Ler o texto e não lembrar do diretor da Fundação Ford defendendo o wokenismo, chamando todos os “anti-woke” de racistas é impossível.
É um texto realmente excelente e há muitos trechos que dão ótimos destaques, mas vou escolher apenas um para vocês irem lá ler tudo:
Você precisa ser um professor de direito “assustadoramente brilhante” de Berkely para acreditar que os homens podem se tornar mulheres e engravidar. Na verdade, apenas a “assustadoramente brilhante” Judith Butler poderia afirmar que o homem branco ocidental doutrinou o “Sul Global” em noções tradicionais de masculinidade e feminilidade. Quão rancoroso devemos ser com as pessoas do “Sul Global” – que “eles” [a autora se refere à Judith Butler, que agora diz que seu pronome é “they/them”] provavelmente só conheceram nos hotéis Sheraton enquanto dão conferências em todo o mundo nas quais “eles” educam o Outro – para imaginar que os outros tiveram que esperar pelo homem ocidental branco para lhes dizer o que são um homem e uma mulher, porque eles não conseguiam descobrir sozinhos! Só os acadêmicos que usam o termo “Latinx” (uma invenção norte-americana que, segundo as estatísticas, só é usada por 3% dos latino-americanos) e nunca socializam com pessoas de países não-ocidentais podem estar tão iludidos em relação aos outros! Na verdade, quando Butler vai para o “Sul Global” (mais especificamente, o Brasil) as suas teorias são fortemente rejeitadas pelo que o seu discípulo chama de “grupos fundamentalistas”. Aparentemente, o “Sul Global” não vale nada se não partilhar as nossas opiniões.
Talvez esse seja o problema de estar mais preocupada com o que os outros vão pensar de você do que com o comprometimento com os próprios valores. A geração vendida não é um texto particularmente novo — e fala sobre música — mas lembrei dele esses dias quando fui ler um texto do Caio Prado Jr em um site de debates políticos com vários acadêmicos importantes. Por curiosidade, fui checar sobre o site — quem fundou, quem financia. Não surpreendentemente, o site foi fundado por uma fundação filantrópica de um milionário.
Há alguns meses, apliquei para um trabalho em um instituto de pesquisa em um determinado departamento da USP cuja cabeça é uma mulher, figura importante no debate econômico brasileiro. Todos os projetos do instituto de pesquisa eram financiados pela filantropia capitalista, com excessão de um, que tinha financiamento público. Não muito tempo antes, eu fiquei sabendo sobre uma influencer e pesquisadora da esquerda (que muitos de vocês conhecem) que se tornou chefe de pesquisa em um instituto financiado da mesma forma.
Dos institutos de pesquisa às mídias especializadas e/ou independentes, todo mundo foi comprado. Existe alguma coisa que não seja financiada pela filantropia capitalista quando falamos de mídia e pesquisa? Porque eu não consigo levantar mais de meia dúzia de organizações sem muita relevância para a atual fabricaçao de consenso.
As perguntas realmente sinceras que surgem daí são: Como fazer jornalismo e pesquisa de forma livre quando se está atado ao dinheiro do grande capital? Como ser anti-capitalista e aceitar sentar nas instituições midiáticas, culturais e de pesquisa financiadas pelos grandes capitalistas para produzir produtos jornalísticos e de pesquisa que, direta ou indiretamente, atendem aos interesses de manutenção dessa classe? Como enxergar a linha que separa a necessidade de sobreviver e a ânsia de se vender para ter uma fatia mais generosa do prestígio e do dinheiro?
A revolução não será financiada, mas a contra-revolução com certeza está sendo e parte desse financiamento está indo para quem forma opinião nos círculos da esquerda hegemônica hoje — e eu não estou falando da CUT recebendo dinheiro do governo dos EUA para implementar projetos de promoção do transgenerismo (o LGBTQIA+ é só pra disfarçar, como vemos na linha fina).
A ONGnização e financeirização dos movimentos sociais forjou uma narrativa particular de justiça social por meio das doações filantrópicas onde não existe luta de classes. Eu não tenho dúvidas que esse é um importante fator para a tal “morte da esquerda”.
Ou, talvez mais precisamente dizendo, para a norte-americanização da narrativa emancipatória. Os EUA são um país sem tradição de luta de classes, onde os principais pensadores operam no plano puramente cultural e o movimento símbolo é o Panteras Negras. No plano das ideias, John Money e Judith Butler — principais ideólogos da teoria da identidade de gênero — são estadunidenses. Lembrando que essa última não sai das manchetes dos principais veículos jornalísticos nacionais, tendo um espaço que nenhum outro autor tem ou já teve na mídia.
No plano do financiamento bilionário, Ford Foundation, Open Society Foundations, LGBTQ+ Victory Institute, todos norte-americanos. O LGBTQ+ Victory Institute tem programas de treinamento de líderes políticos no Sul global visando inserir seus pupilos nos governos locais. No relatório da organização de 2022, o mais recente disponível, entre “os casos de sucesso” está o Brasil:
Ou seja, esses filantropos, por meio de alguns peões brasileiros, que vão dos sujeitos com pedigree como Abramovay a recém-treinados para ocuparem cargos públicos, estão sentados nas cadeiras do governo. Seus recursos sustentam de projetos da mídia hegemônica, como Folha de S.Paulo, à toda estrutura institucional das principais organizações de mídia independente no país, além de estarem rapidamente adentrando o financiamento de pesquisas em departamentos de pesquisas de universidades públicas. Se isso não é suficiente para soar um alarme, eu sinceramente não sei o qu